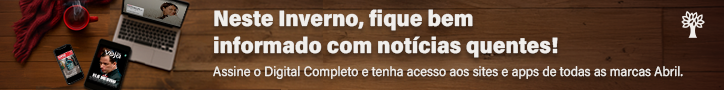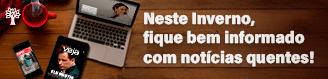O que será de nós após a pandemia?
Diante de tantas incertezas e com o isolamento como saída para preservar a coletividade, sabemos que o futuro da sociedade global não será mais o mesmo
Localizada às margens do Rio Yangtze, um dos maiores do mundo, e entremeada por lagos, a cidade chinesa de Wuhan sofreu com avassaladoras enchentes ao longo de sua história. Ficou praticamente submersa por três meses em 1931, quando ao menos 1 milhão de vidas se perderam após chuvas intensas e duradouras causarem o transbordamento do curso de água. Mais recentemente, em 2016, sofreu novamente com a tormenta. Essas enchentes deixaram cerca de 500 mortos no país. A cidade nasceu da junção das antigas Wuchang, Hankou e Hanyang. Já foi capital da China em duas ocasiões, em 1927 e 1937. Sua história sempre foi marcada pelos desastres envolvendo a força da água. Até agora.
O destino, lar de 11 milhões de pessoas, tomou os noticiários ocidentais, onde raramente é citada, no início deste ano, após a eclosão de um novo coronavírus (Sars-Cov-2), causador da doença Covid-19, capaz de gerar pneumonia grave, com potencial de disseminação e de letalidade ameaçadores. Como se sabe, o vírus rapidamente se alastrou pelo globo e, cerca de três meses após o primeiro caso, o estado de pandemia foi decretado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Esse é o estágio mais grave de disseminação de uma doença, quando ela se espalha sem controle em diferentes localidades. Mesmo para cidades como Wuhan, que conta com amplo aparato tecnológico à sua disposição, é tarefa árdua deter novas infecções. Entretanto, é dali que hoje surgem as esperanças de recomposição mundial em um futuro próximo.
Wuhan aprende com a própria trajetória. Depois de tanto ser castigada pelas enchentes, criou áreas verdes para absorver alagamentos, grandes esponjas. Desde o último grave incidente citado, não há registros de alagamentos de porte semelhante. Agora, tenta aplicar o mesmo princípio ao vírus letal. Só que, desta vez o planeta está com os olhos voltados para a metrópole. Desde o mês passado, as transmissões na cidade vêm caindo – por alguns dias, esse número foi zerado. Para alcançar o resultado, medidas extremas, como isolamento do município, foram tomadas. Ninguém entrava ou saía de lá.

De acordo com estimativas do epidemiologista Gabriel Leng, professor da Universidade de Hong Kong e líder do combate à pandemia de síndrome respiratória aguda grave (SARS), 60% da população mundial poderá ser infectada e 45 milhões de pessoas mortas dependendo da nossa ação. Pela grandiosidade do número, é óbvio que nem os melhores sistemas de saúde do mundo conseguirão tratar todos os enfermos se o ritmo de contaminação não for desacelerado – calcula-se, com base em dados da China, que 20% dos infectados precisam de internação. Não há vagas em UTIs para todos, nem respiradores capazes de dar sobrevida aos doentes, que, com os pulmões afetados, não têm força para inspirar o ar. Como o contágio se dá de pessoa para pessoa, as restrições de convívio se tornam fundamentais.
No momento em que finalizamos esta edição, os casos pelo mundo somavam 500 mil, com 20 mil mortes. Os países mais castigados, além da China, eram Itália, Estados Unidos e Espanha. O Brasil, que registrara seus primeiros casos no início de março, já tinha ao menos 46 mortos. Certamente, quando você estiver lendo esta reportagem, as cifras serão muito maiores. As grandes metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, concentravam boa parte dos casos e das mortes.
Seguindo o rumo de outras capitais, como Roma, Madri e Paris, quando atingiram estágio mais avançado, nossas duas cidades foram as primeiras a fechar estabelecimentos que promoviam aglomerações, de cinemas a restaurantes. Nosso mundo globalizado tem fronteiras fechadas e, em alguns lugares, sair de casa rende punições. Os moradores de São Paulo nunca presenciaram nada semelhante. As ruas esvaziaram. A ordem é – se o seu trabalho permite – ficar em casa.
Além dos efeitos devastadores de uma doença respiratória aguda que se espalha a passos rápidos, os reflexos do distanciamento social de seus cidadãos, confinados a um espaço privado, serão alguns dos impactos mais determinantes desta crise. Ironicamente, precisamos nos manter isolados pelo bem coletivo. Bilhões de pessoas no mundo todo estão assistindo os dias passar pela janela de casa. “Essa pandemia definirá nossa geração”, resumiu em pronunciamento o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

Caos mental
Esta não é a primeira – e certamente não será a última – vez que o mundo passa por uma pandemia. A humanidade sobreviveu a todas elas, mesmo com arsenal científico aquém do que temos hoje. Da medieval “peste negra”, que teve, concomitantemente, as pestes bubônica e pneumônica e dizimou de 30% a 60% da população europeia no século 14, até as que vivenciamos neste século, como a do vírus Ebola, que se concentrou sobretudo na África e que mata cerca da metade das pessoas que contraem a doença, e a SARS, também causada por um coronavírus, mas que afetou número consideravelmente menor de pessoas (foram 800 mortes) até desacelerar, em 2003. Incrível, entretanto, como a memória coletiva não leva à prevenção, fazendo com que a história se repita.
Durante a gripe espanhola, entre os anos 1918 e 1920, inicialmente o discurso das autoridades e de parte da imprensa era de que o pânico poderia ser mais corrosivo do que a própria gripe, o que ajudou a fazer com que as pessoas negligenciassem a ameaça. Em seguida, os conselhos eram de lavar as mãos e não sair às ruas sem que houvesse extrema necessidade; campeonatos de futebol, peças de teatro e até missas foram paralisadas. Após o fim da pior fase da doença, pouco a pouco as pessoas foram voltando às ruas e comemoraram o retorno à normalidade com festas. “A situação se assemelha em muitos aspectos com a que vivemos hoje, mas, em contrapartida, agora há muito mais informação, que chega rápido a mais gente”, explica a historiadora Liane Maria Bertucci, professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR), especialista em história social e que pesquisou o medo causado pela pandemia.
Se, por um lado, o fato de termos fácil acesso às informações sobre a doença é capaz de fortalecer a prevenção, por outro, o despejo de notícias sobre o avanço da pandemia gera fragilidades às quais a humanidade não esteve exposta em outras epidemias. Há 100 anos, quando da gripe espanhola, os governos europeus foram capazes de esconder por meses a emergência de um novo vírus, de modo a não afetar suas tropas, então empenhadas na Primeira Guerra Mundial. Em Wuhan, o “segredo” durou dias. Acompanhar em tempo real os números de novas celebridades e autoridades infectadas é praticamente como assistir a um reality show.
Contudo, a torrente de atualizações é incapaz de nos dar certezas sobre o futuro. “A perspectiva de não saber quanto tempo tudo isso vai durar nos faz sofrer mais. Também muda nossa experiência saber, de antemão, que pode ser mais tempo do que imaginávamos a princípio”, explica o psicanalista Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). Sem previsão de quando o mundo estará plenamente livre da Covid-19, nem mesmo a confiança – baseada na história e no que dizem os especialistas, claro – de que essa situação acabará em breve é capaz de tranquilizar nossa mente.
Para quem está vivenciando este estado de exceção (no caso, uma calamidade pública), que se manifesta como uma anormalidade no modo como costumávamos conduzir nossa vida, a incerteza toma forma de ansiedade. Há medo antecipado de se infectar, da possibilidade do vírus afetar pessoas em grupos de risco do nosso entorno, de quanto tempo precisaremos contê-lo. Experimentar ansiedade não é uma anomalia e, até certo ponto, não caracteriza doença. É apenas uma maneira que nosso cérebro encontrou, lá nos tempos da Idade da Pedra, para nos deixar atentos a perigos e para pensar em soluções se vier a existir qualquer ameaça futura. Ela nos estimula a agir. Impede que fiquemos estáticos ou que não mensuremos as consequências de nossos atos na sociedade.
A perspectiva de não saber quanto tempo tudo isso vai durar nos faz sofrer mais
Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP
Mas é importante estar atenta se sua cabeça não sai desse pensamento contínuo ao longo de dias. Sem cuidado redobrado, não surpreenderia os profissionais de saúde mental se houvesse um aumento expressivo de pessoas com diagnóstico de transtorno de ansiedade após a pandemia. “Os níveis de ansiedade estão intensificados entre todos, e isso é digno de atenção. Após esse tipo de situação, os riscos de desenvolver stress pós-traumático – quando se acredita que ainda vivemos na pandemia – são exacerbados”, explica a psicóloga Gabriela Sayago, que ampliou os atendimentos de prevenção.
O alerta também fica para quem está em tratamento para transtorno de ansiedade social, menos comum. Nesse caso, a pessoa evita situações sociais porque tem medo de julgamentos, humilhações ou de ficar envergonhada. Nesse caso, há predisposição para o isolamento. Contudo, se ele de fato ocorrer, pode significar retrocesso no tratamento.
As possibilidades de reflexos mentais são muitas. “Comportamentos compulsivos em relação a controle de limpeza e de sintomas são pontos de atenção tanto durante a crise quanto depois dela”, afirma a psicológa Elaine Di Sarno. “Se não for estabelecida uma rotina que inclua estímulos sociais, a tristeza generalizada pode se transformar em depressão”, diz Mariangela Gentil Savoia, pesquisadora do Programa Ansiedade do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Todas essas perspectivas se tornam ainda mais preocupantes se considerarmos que elas podem acontecer coletivamente e a nível global, com consequências carregadas para além da pandemia. Quatro anos após a crise com a SARS, 42% dos sobreviventes da infecção haviam desenvolvido algum transtorno mental, de acordo com estudo publicado na revista científica East Asian Arch Psychiatry.

Ainda que não chegue a lidar com a contaminação pelo vírus, boa parte da população está enfrentando o confinamento – que pode se tornar mais e mais pertubador conforme os dias passam. Para pessoas que moram sozinhas em metrópoles (em São Paulo, há 1,1 milhão) ou pertencentes a grupos de risco, como os idosos, e ainda para profissionais de saúde (vetores em potencial do vírus e que são orientados a reduzir o contato com parentes e amigos ainda que vivendo na mesma casa), o confinamento pode representar, necessariamente, isolamento social. Assim, alguma dose de solidão é praticamente inevitável. Sabe-se que, a longo prazo, ela é capaz de promover danos à saúde. Quem experiencia profunda solidão é duas vezes mais propenso a desenvolver Alzheimer e três vezes depressão, além de ter cerca de 30% a mais de chances de sofrer um AVC ou de apresentar doenças cardíacas, de acordo com levantamento da psicóloga americana Julianne Holt-Lunstad.
A solidão é capaz de afetar nossa imunidade, porque o isolamento social aumenta a produção de cortisol por nosso organismo, o que, em última instância, pode desequilibrar o sistema imunológico, conforme estudo de neurologistas da Universidade de Chicago. Evidentemente, isso não é nada bom para os tempos em que vivemos. É claro que estaríamos falando de meses confinados, mas esse detalhe não desmonta completamente os efeitos negativos que se sentir sozinho pode causar. “É importante não se fechar no próprio mundo. E procure olhar por quem pode estar só, seja com uma conversa virtual, seja colocando bilhetes em seu prédio oferecendo ajuda”, afirma Michelle Lim, estudiosa da solidão e professora da Swinburne Universidade de Tecnologia, na Austrália, país que também está convivendo com o vírus.
Procure olhar por quem pode estar só, seja com uma conversa virtual, seja oferecendo ajuda
Michelle Lim, professora da universidade de Swinburne
Ainda que o confinamento seja, neste momento, amplamente percebido como a única maneira de deter consequências mais graves, ele pode ser também entendido como uma forma de punição. O isolamento do restante do mundo e até das pessoas está na base da composição das prisões; ele exerce coerção e é interpretado como capaz de corrigir, ao gerar reflexão pela solidão, conforme elabora o filósofo Michel Foucault em Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão (1975).
“É o momento de exercitar a tolerância, porque todos tendem a estar mais intolerantes com a situação. O confinamento gera agressividade, que precisa ser descontada em algo”, afirma Dunker, da USP. Isso serve sobretudo para quem não está sozinho e precisa lidar com a convivência com outras pessoas – e suas diferenças – por mais horas do que estamos acostumados. Além disso, se quem estiver se isolando interpretar a medida como um sacrifício, se sentirá injustiçado frente a quem, na sua visão, possa estar descumprindo as regras. Sentimos raiva de quem parece estar colaborando para o caos – seja ao sair à rua sem necessidade, seja não lavando as mãos ou apertando as de centenas de pessoas em uma manifestação.
Essa raiva precisa ser canalizada para algo positivo. “Não somos capazes de sentir raiva de outras espécies, das quais podemos ter medo; ela é canalizada em direção a outros humanos. E é uma emoção primária, que remonta à disputa por recursos. Ela vai aparecer agora em que todos dividem o mesmo espaço”, explica Daniel Martins de Barros, psiquiatra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e autor do recém-lançado O Lado Bom do Lado Ruim (Sextante), que apresenta pontos positivos dos sentimentos negativos – a maior parte do que vamos sentir nesse período. Em linhas gerais, a raiva é capaz de deter injustiças e a tristeza nos torna mais reflexivas. Consegue aplicar isso de maneira mais otimista na sua rotina?

O mundo não passa de uma aldeia
Após calamidades, a reação imediata da nossa sociedade é se dar as mãos. Diferentemente do que se poderia supor, ela se torna menos egoísta e mais altruísta e solidária. Essa é a conclusão da escritora americana Rebecca Solnit, que descreveu como desastres lançam as pessoas em uma utopia, ao menos temporária, de mudanças de mentalidade e novas possibilidades sociais, no livro A Paradise Built in Hell: The Extraordinary Communities That Arise in Disaster (“Um paraíso construído no inferno: as comunidades extraordinárias que surgem em desastres”, em tradução livre). Ela analisou o comportamento social que se seguiu após cinco desastres nos Estados Unidos, incluindo o ataque às torres do World Trade Center, em 11 de setembro de 2001. A solidariedade floresce de situações extremas.
Agora não seria diferente; os exemplos já são inúmeros. Da união entre judeus israelenses e palestinos – que desde o final da Segunda Guerra Mundial estão em conflito – para combater a doença em sua região às organizações de moradores para gerar renda para os trabalhadores informais afetados pelo esvaziamento das ruas, que têm surgido em cidades como Salvador. Houve também mobilização de companhias de moda e beleza (para citar algumas, as francesas Dior e Louis Vuitton, a espanhola Zara e a brasileira Natura), que deixaram de lado a lógica do lucro para produzir máscaras e álcool em gel a ser doados aos serviços de saúde. O caos social deixa claro que, querendo ou não, todos fazemos parte de uma mesma comunidade – o que significa, inclusive, que a ruína afeta a todos.
Com essa pandemia, estamos percebendo que somos muito interligados e dependentes uns dos outros, inclusive endemicamente
Alan Fiske, antropólogo americano
No planeta globalizado, isso é especialmente verdadeiro. Ainda nos anos 1960, o filósofo canadense Marshall McLuhan cunhou o termo “aldeia global”, em referência a como o progresso tecnológico reduziria o mundo todo à forma mais simples de ligação social, com todos conectados. E, se alguma parte dessa aldeia descuida das medidas de contenção, dificilmente o restante não é impactado. “Em sociedade, humanos coexistem colaborando entre si; é assim que somos. Com essa pandemia, estamos percebendo que somos muito interligados e dependentes uns dos outros, inclusive endemicamente”, afirma o antropólogo americano Alan Fiske, professor da Universidade da Califórnia, referência no estudo das relações humanas.
Sob essa lógica, fica evidente quanto uma sociedade guiada pelo individualismo, pela exclusão da ideia de coletividade e fundada em desigualdades faz pouco sentido. Esse modelo é colocado em xeque em momentos de crise como este, em que temos a oportunidade de reconstruir a comunidade sobre outros pilares. “A marcha a ré e os freios que a cultura neoliberal (que propõe privatizações e corte de gastos públicos, entre outros princípios) se recusou obstinadamente a usar agora foram desencadeados: não graças a uma revolução violenta, mas, sim, a um vírus invisível que um morcego soprou sobre a sociedade opulenta, obrigando-a a se repensar”, escreveu o sociólogo italiano Domenico De Masi sobre a desaceleração que o mundo é obrigado a fazer para se recolher, em ensaio publicado pela Folha de S.Paulo em março. Ele aponta que os serviços públicos de saúde, a que todos têm direito na Itália, vêm sendo fundamentais para que a perda de vidas não seja ainda maior. Prova disso é a ação do governo espanhol, que nacionalizou hospitais para atender os doentes que não teriam acesso ao sistema privado.

Com poucas exceções, todos terão perdas econômicas com essa enorme crise – entre os mais ricos, basta pensar nas quedas das bolsas de valores e nos prejuízos do enfraquecimento do consumo. Mas é claro que o tombo é muito maior entre os mais vulneráveis. No Brasil, cerca de 3,7 milhões de companhias de pequeno porte, microempresas e microempresas individuais dos setores de varejo e alimentação fora de casa devem ser afetadas negativamente pela pandemia, segundo o Sebrae. Sem demanda ou possibilidade de sair para garantir o próprio sustento, trabalhadores informais veem sua renda desmoronar da noite para o dia.
Nas favelas, o acesso a itens de higiene não atinge a todos, e água encanada muitas vezes não é fornecida com regularidade. “A forma como as periferias brasileiras se organizam, sem que tenha havido urbanização pensada para criar ambientes iluminados e ventilados, por exemplo, faz com que elas sejam ambientes suscetíveis à disseminação do vírus”, explica a arquiteta e cientista ambiental Estela Alves, pós-doutoranda do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Para contornar parte desses problemas, o governo federal anunciou medidas como vales para trabalhadores informais e mudanças temporárias em legislações trabalhistas, como redução da jornada de trabalho atrelada a cortes de salário – apenas sugestões até a finalização desta edição. Países como Reino Unido, França e Alemanha lançaram isenção de contas básicas ou subsídios salariais para socorrer a população.
Apesar de tantas consequências negativas, que tornarão difícil que todos cheguem ao final de tudo isso em pé, é possível tentar enxergar alguma luz no fim do túnel. Assim como do local de origem da epidemia surgiu a esperança de que podemos acabar com a disseminação da doença, de lá também temos notícias de alguns dos efeitos positivos dessa desaceleração mundial. Na região central da China, onde fica Wuhan, os níveis de gases de efeito estufa caíram consideravelmente desde janeiro, sinal de que é possível barrar um problema de impacto muito mais duradouro que é o aquecimento global. O mesmo reflexo foi sentido em países como Inglaterra e Itália, já que as pessoas pararam de se locomover e muitas indústrias paralisaram os trabalhos.
Até agora a maior vítima europeia da pandemia, a Itália ilustrou essa desaceleração ao ostentar águas límpidas nos canais da icônica Veneza, que vinham sofrendo com a ação do homem. Essas mudanças não vieram sem custos: a economia chinesa foi ceifada e calcula-se que o turismo na Itália, fonte de renda significativa, deve regressar a níveis de 1960. Daqui em diante, os meses podem ser de reflexão, para repensar o impacto do nosso estilo de vida em sociedade no planeta – e tentar manter nossas mudanças de hábitos para o bem da comunidade. Talvez seja, contudo, a grande oportunidade de percebermos que não estamos sozinhos no mundo.
Ouça ao podcast de CLAUDIA sobre como desenvolver resiliência

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Horóscopo da semana: é hora de repensar suas escolhas
Horóscopo da semana: é hora de repensar suas escolhas 4 tendências de inverno para quem quer se vestir com elegância
4 tendências de inverno para quem quer se vestir com elegância Esmaltes para as unhas dos pés: 6 cores elegantes e atemporais
Esmaltes para as unhas dos pés: 6 cores elegantes e atemporais Bobbie Goods: 5 livros de colorir aconchegantes para o inverno
Bobbie Goods: 5 livros de colorir aconchegantes para o inverno 12 posições sexuais possíveis para inovar na transa
12 posições sexuais possíveis para inovar na transa