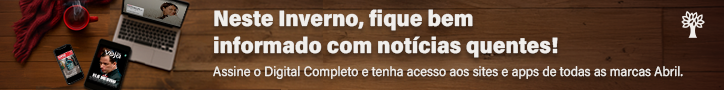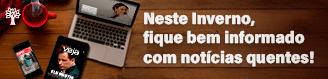Jovens indígenas e quilombolas defendem legado e avanço de seus povos
As ativistas compartilham os desafios de equilibrar a continuidade da luta de antepassados com a construção de seus próprios caminhos

Sentar-se embaixo da cadeira da mãe durante as reuniões da Associação de Mulheres Indígenas Sateré Mawé, criada pela avó Zenilda, é a primeira lembrança que Samela Aiwá, 24 anos, do povo Sateré Mawé, tem do seu caminhar no ativismo. A estudante de biologia e artesã usufrui de um direito que teve influência da avó para sair do papel: a política de cotas.
“Ela sempre nos dizia que aquela luta não era para ela, mas para mim e minhas primas. Nossas anciãs fizeram o que puderam para nós, jovens, lutarmos hoje”, diz Samela, que se divide entre os papéis de estudante, secretária da associação, integrante do movimento Fridays For Future, também conhecido como Greve pelo Clima, e ativista ambiental. “Não tenho vida pessoal, só o movimento e a luta.”
Débora Gomes Lima, 23 anos, lembra do suor escorrendo na pele, dos batimentos cardíacos acelerados e dos constantes pensamentos de autossabotagem. Os sintomas acenderam o sinal de alerta para que ela procurasse ajuda.
A ativista e coautora mais jovem do livro Mulheres Quilombolas: Territórios de Existências Negras Femininas (Jandaíra) liderou, em 2018, a ocupação na Universidade Federal do Tocantins, onde cursa licenciatura em química, em busca de estancar o desmonte do programa de bolsas para estudantes indígenas e quilombolas.
“Eu me senti culpada, ainda que soubesse que não estava errada. Cheguei ao meu limite e fui diagnosticada com depressão”, lembra a jovem, que precisou se afastar da militância para cuidar da saúde.
Débora, assim como milhares de jovens oriundos das cerca de quatro mil comunidades quilombolas no país, teve que sair de seu território para dar continuidade aos estudos – para conseguir educação, lidou com a solidão e o preconceito.
Há anos, povos quilombolas e originários enfrentam um embate político – que muitas vezes se torna físico – para garantir a demarcação de seus territórios e seus direitos estipulados pela Constituição.
Agora, porém, com novas ferramentas e em um contexto diferente de suas mães, avós e outras referências de lideranças femininas, as jovens incorporam as pautas sociais em uma tentativa de não apenas preservar a memória de seus antepassados como também de ampliar as possibilidades aos que estão por vir.
Para CLAUDIA, quatro ativistas dividem os desafios de coexistir nos espaços de lutas com gerações mais velhas e a responsabilidade de consolidar suas causas dentro e fora das comunidades.
Conquistando espaço
O silêncio durante as reuniões da associação de mulheres disfarçava o medo da pequena Samela de ter sua fala invalidada. “Já ouvi que não sabia o que estava dizendo e sempre fui questionada como indígena porque não tinha as características estereotipadas”, lembra.
A saída para romper com o bloqueio foi a escuta. “Observei outras mulheres, estudei e falei com professores. Essas pessoas me incentivaram a ter uma voz ativa, principalmente na faculdade. Hoje, é comum que perguntem a minha opinião”, orgulha-se.
A coragem consolidada durante a adolescência era característica que conhecia das histórias contadas sobre a avó. Zenilda não media esforços para proporcionar melhores condições às filhas na estrutura patriarcal da aldeia.
Na década de 1970, ela saiu da comunidade com a família rumo a Manaus para ter acesso a estudo. Contudo, o destino foi a exploração, o abuso e o preconceito sofridos constantemente na capital.
“Desde que vovó morreu, o feminismo indígena diminuiu na nossa comunidade. Vejo outros povos com representantes em destaque, como Guajajara e Pataxó. Sateré Mawé só tem eu, então fico apreensiva de fazer algo errado com tanta responsabilidade, mas também sinto orgulho”, garante.
Diferente de Samela, Faustina da Cunha, 26 anos, ainda pode compartilhar seus passos com a avó materna, Cirila, mulher preta da comunidade quilombola de Morros, em Cavalcante, Goiás.
Os encontros são esporádicos, já que a estudante de direito vive desde a infância em Cavalcante, Goiás. “Para ter oportunidade, precisamos sair da nossa terra. É um movimento necessário e que orgulha os parentes que ficam”, afirma.
Formada em pedagogia, a escolha da segunda graduação veio da vontade de reparar tanto desamparo com os seus semelhantes. “Sei que não vou mudar tudo, mas quero contribuir de alguma forma. A gente sai para voltar com melhorias.”

Por mais que problemas como a falta de energia fiquem para trás, outros batem à porta com força. A estudante lembra que sua permanência nas duas graduações só aconteceu por causa do subsídio oferecido aos alunos de baixa renda, benefício que está prestes a ser encerrado. “Além de ter que correr atrás do déficit da nossa formação, ainda precisamos nos preocupar em ter um lugar para morar e o que comer”, completa, após uma pausa para controlar lágrimas.
O sofrimento dos filhos também ressoa nas mães, que pouco conseguem ajudar financeiramente. O colo muitas vezes vem de um desconhecido, como o que Débora encontrou durante a ocupação.
Conheceu, entre outros estudantes e profissionais quilombolas, a assistente social Selma dos Santos Dealdina. “Criamos vínculo para além da universidade, porque falamos das nossas aldeias e comunidades”, explica Débora.
Descoberta de particularidades
O ativismo de Débora nasceu na sala de aula que dividiu com a mãe até a quarta série. “Sempre vi minha mãe, mulher preta, quilombola e quebradora de coco, como referência”, lembra ela, que nunca conheceu o pai, mas sabe algumas informações sobre ele.
Aos 12 anos, a jovem compartilhou com os colegas, durante uma aula de história tratando do período da escravidão, que seu pai tinha origens indígenas. “Eu me descobri mulher negra ao sofrer racismo nesse dia, quando outro aluno ofendeu minhas raízes.”
Dois anos depois, sentiu-se atraída por uma amiga, o que a levou a entrar em contato com sua sexualidade. A resposta gerou um intenso conflito familiar. “Minha namorada frequenta minha casa, mas ninguém toca no assunto e consideram ela uma amiga, mesmo anos depois”, revela a ativista, que acredita que a postura das pessoas mais velhas é resultado da estrutura heteronormativa.
A visão é compartilhada pela ativista e fundadora do canal Nuhé, Alice Pataxó, 19 anos, de Porto Seguro. Bissexual, a estudante de humanidades na Universidade Federal do Sul da Bahia ressalta a influência da igreja católica quando há tentativas de tratar das pautas LGBTQIA+ na comunidade. “A evangelização foi muito forte e é difícil para alguns parentes entenderem o movimento, mas temos que questionar para nos sentirmos bem na nossa própria terra”, defende.
A relação com o lugar de origem é complexa para muitas dessas ativistas, que embarcam em um processo de autoconhecimento libertador longe de suas comunidades. “Até sair, é a única vida que a gente conhece, quer ter, admira e faz parte”, explica Alice.
A saudade até aperta quando se afastam. “Sinto falta e quero voltar para ter aquela convivência de primos e avós do lado de casa. Também estranho o fato de não ser vista como adulta aqui. Na aldeia, a juventude é levada a sério e participamos do processo de construção do coletivo”, aponta a estudante, que mora sozinha para encurtar a distância até a instituição de ensino.

Cuidado que cura
Alinhar o ativismo com a vida pessoal e a faculdade é um peso reconhecido por todas, o que acaba prolongando o tempo de conclusão dos cursos. Alice, por exemplo, deu entrevista durante uma aula online.
Débora acreditava que a Universidade seria um espaço de aprendizado, mas percebeu que a instituição não estava pronta para receber ela e seus semelhantes. Para voltar ao eixo em dias estressantes, busca forças nos rituais ancestrais, como chás e rezas.
“Quando fico esgotada, falo para a minha mãe que não estou bem e ela prepara uma bebida bem quente. Acredito que o especial nisso é a nossa troca, o momento de se sentar e curtir a companhia uma da outra”, explica.
Samela se reenergiza, quando as orientações diante da pandemia permitem, na natureza. “Deixo o celular de lado, tomo banho de rio e consumo nossa bebida sagrada, de guaraná, para me conectar com a espiritualidade e relaxar”, explica ela, confessando que o ritual de autocuidado é raro na rotina.
A luta se faz necessária mesmo quando as jovens não planejam. É uma questão de sobrevivência. Enquanto as pessoas as cobram pelo término da graduação ou constroem julgamentos sobre suas escolhas individuais, o sono delas é perdido com o medo de não conseguir concluir o curso e a preocupação de garantir que o caminho dos próximos seja menos árduo.
“A gente quer que os nossos mais velhos tenham orgulho da gente, porque carregamos o compromisso de histórias intensas e que vivem dentro de nós. Cada geração escreve a sua própria história e chegou a nossa vez”, conclui Alice.
Leia as matérias do nosso especial de março:
Neste mês de março, celebremos as mulheres
Depoimentos de leitoras e celebridades sobre ser mulher
Feministas de várias gerações contam como renovam as forças para lutar
Mulheres que ergueram outras mulheres na carreira
Os homens precisam escutar mulheres, ler mulheres, assistir filmes de mulheres – e apoiá-las
Como feministas encontraram nas suas redes apoio e acolhimento através dos tempo
Silvia Federici: “Vejo uma oportunidade de mudar a situação das mulheres”
Resiliência: como se fortalecer para enfrentar os seus problemas

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 6 esmaltes escuros e elegantes para apostar no inverno 2025
6 esmaltes escuros e elegantes para apostar no inverno 2025 5 destinos semelhantes a Campos do Jordão (e mais baratos)
5 destinos semelhantes a Campos do Jordão (e mais baratos) 6 perfumes brasileiros que são melhores do que os gringos
6 perfumes brasileiros que são melhores do que os gringos As 5 melhores escovas secadoras para ter um cabelo de salão
As 5 melhores escovas secadoras para ter um cabelo de salão 7 body splashes marcantes e confortáveis para o inverno 2025
7 body splashes marcantes e confortáveis para o inverno 2025