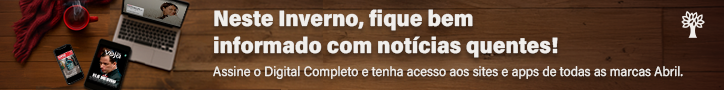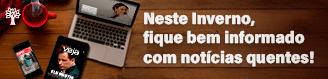A escrita tem nome de mulher: 6 autoras brasileiras para conhecer
Em prosa ou poesia, autoras propõem novas linguagens e pautam diversidade em narrativas que renovam o mercado editorial brasileiro

|Uma publicitária sem nome e à beira de um colapso escapa do caos rumo a um refúgio paradisíaco. Júlia é uma jovem que chega à vida adulta tentando remendar os cacos dos traumas e das tristezas familiares. Aurora é uma idosa amnésica que se agarra às poucas lembranças que lhe restam (e às que ela inventa). Regina vive num mundo apocalíptico devastado por pesticidas agrícolas. Maria Carmem é uma menina de 11 anos que ajuda os pais na loja familiar e tenta escrever seu primeiro livro. Todas elas são criações de outras mulheres, personagens de obras publicadas nos dois últimos anos por autoras que, por meio de pequenas e grandes companhias ou de forma independente, estão renovando o mercado editorial brasileiro.
“Uma mulher vivendo na literatura e sendo escrita por outras mulheres é algo revolucionário. Trazemos nas páginas esse corpo que é atravessado de mil formas pelo patriarcado em diversos ritmos narrativos, muitas vezes frenéticos, quase cinematográficos”, avalia Aline Bei, de 35 anos, autora de O Peso do Pássaro Morto (Nós, 2017) e Pequena Coreografia do Adeus (Companhia das Letras, 2021). As mulheres representam 59% do público leitor no país, de acordo com a mais recente Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Ibope em 2015, mas só agora seus nomes começam a aparecer mais nas capas de obras das mais variadas.

de Aline Bei se
tornou inconfundível. (Catarina Moura/CLAUDIA)
Trazemos nas páginas esse corpo que é atravessado de mil formas pelo patriarcado em diversos ritmos narrativos, muitas vezes frenéticos, quase cinematográficos
Aline Bei
“Acredito que a nossa geração já não olha para um livro escrito por uma autora e julga que se trata de literatura exclusiva para mulheres. Não me sinto distante de uma literatura centrada num homem branco, hétero e cisgênero, por exemplo, e o contrário também é verdadeiro”, continua Aline. Apesar dessa afirmação, ela admite que sua escrita está centrada nos “corpos solitários, marginais, que não encontram seus pares”, cuja história ela conta em uma linguagem muito própria de versos que não são versos, organizados em linhas desiguais que se sucedem quase no ritmo cardíaco de quem as lê. São, em suas palavras, narrativas simples, quase banais, que ganham dimensões luminosas em sua lírica que rende constante homenagem à poesia. “A poesia de hoje no Brasil é feita por mulheres que estão pensando a palavra de um jeito inovador. A revolução sempre está na poesia, pegamos dela essas fagulhas e colocamos em prosa”, diz.

fala sobre as
dores humanas
sem panfletagem. (Acervo pessoal/Divulgação)
Quem bem conhece o poder dessa revolução linguística é a fotógrafa, tradutora e poeta Adelaide Ivánova, de 40 anos. Autora de cinco livros (o mais recente, Chifre, foi lançado em 2021 pela Macondo), a pernambucana radicada em Berlim é considerada uma das principais vozes da poesia brasileira contemporânea com sua obra que fala de amor, traição, desejo, dor, feminismo, capitalismo, raiva e alegria. Tudo em uma escrita que imprime a impossibilidade de ser neutra diante do mundo e a necessidade de que alguma posição seja tomada durante a leitura. Porque a poesia de Adelaide é, essencialmente, política: “Sobre a patroa ter uma menor de idade/ e/ou botar uma trabalhadora para limpar a janela por fora sem/ material de segurança/ ninguém deu um pio/ a polícia alegou que foi suicídio/ e o caso ficou por isso mesmo/ quando eu me lembro disso eu sinto um ódio”. Esse é um dos versos de seu Poema para Alessandra, a menor de idade que era empregada doméstica num prédio onde Adelaide morou. “Minha ambição é escrever no tempo presente para o tempo presente. Não se vê muito hoje em dia uma literatura abertamente panfletária, mas toda literatura é política, sobretudo aquela que não fala disso”, afirma, convicta, ela que aprendeu a ler em casa, por influência dos avós agricultores e semianalfabetos, que adoravam livros sobre natureza e luta de classes no Nordeste, além de biografias femininas.

do Prêmio Jabuti 2016 por Amora,
livro sobre afetos entre mulheres. (Catarina Moura/CLAUDIA)
A escrita de Adelaide é um exemplo da crença de Natalia Borges Polesso, de 40 anos, escritora e doutora em teoria literária, de que as poetas “estão à frente das romancistas e prosadoras” não apenas na linguagem, mas também nos temas. Ela cita Tatiana Nascimento, que vem trabalhando há anos em seus poemas noções de apocalipse que só agora chegam em romances como A Extinção das Abelhas (Companhia das Letras, 2021), da própria Natalia, no qual a protagonista tenta se adequar à nova realidade de um mundo devastado enquanto avalia as reminiscências de sua vida familiar (ou a falta dela) e amorosa. Aqui, a escritora – que ganhou o Prêmio Jabuti em 2016 com Amora, coletânea de contos centrados no amor entre mulheres – traz, mais uma vez, histórias de personagens que fogem à vivência heteropatriarcal. “É importante tirar a literatura da normatividade e eu não faço isso para deslocar algo de algum lugar, mas porque essa questão me é cara. Tem mais a ver com o modo como eu me posiciono no mundo e como olho para ele do que como olho para a literatura. Mas, enquanto leitora, confesso que me agrada ler fora da norma, em termos de personagens, histórias e geografias”, diz.

significado nas palavras
de Mariana Salomão Carrara. (Acervo pessoal/Divulgação)
Para Mariana Salomão Carrara, de 35 anos, autora de Se Deus Me Chamar Não Vou (2019) e É Sempre a Hora da Nossa Morte Amém (2021), ambos da editora Nós, trata-se de um exercício de afinidade e compreensão social. “A própria escolha de palavras para descrever alguém varia segundo o olhar autoral. Quanto mais diversidade tivermos nas estantes, mais exercitaremos nossa empatia, como leitoras e escritoras”, comenta.
Prova do enriquecimento que essa diversidade traz à literatura brasileira é Jarid Arraes, de 31 anos, sertaneja nascida e criada em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, que imprime em sua obra a subjetividade de sua própria experiência no mundo como uma jovem negra e migrante em São Paulo. Tendo escrito cerca de 300 cordéis, pediu um empréstimo, aos 22 anos, para publicar alguns deles. Depois, aventurou-se na poesia, com Um Buraco com Meu Nome (Alfaguara, 2017) e consagrou-se com Redemoinho em Dia Quente, de 2019, onde reverbera toda a potência de sua literatura retirante, que nega os estereótipos construídos sobre a ideia de mulher sertaneja e miserável. “Mesmo quando retrato a pobreza, é longe da imagem de chão rachado pela seca, porque não foi o que vi. Traço um sertão urbanizado, com idosas lésbicas, mulheres que gostam das tradições, outras que as subvertem. É uma obra que me representa muito, justamente por ter essa multiplicidade de vozes.”

Na miríade de realidades, experiências e sentimentos que contam as vozes femininas da literatura brasileira contemporânea, a solidão aparece como elemento comum, e por vezes central, de suas narrativas. É o caso das protagonistas de Mariana Salomão Carrara. “Personagens que não têm repertório emocional para lidar com a solidão e os pavores que sentem sempre me fascinaram. Nesse sentido, a solidão de uma criança de 11 anos e de uma idosa que não consegue lembrar se teve ou não uma filha unem a dor e a dureza desses temas a narradoras com grande vontade de amar e serem amadas”, conta.
Foi de muitas solidões, metafóricas e literais, que nasceu Primeiro Eu Tive que Morrer, romance de estreia Lorena Portela, de 36 anos, que foi fenômeno nas redes sociais antes de se concretizar como livro. A publicitária cearense, que vive em Londres, já tinha há anos na mente a história de uma mulher fictícia com a qual compartilha profissão e que, prestes a sofrer um burnout, viaja a Jericoacoara, onde experimenta uma espécie de renascimento a partir da conexão com outras mulheres. “Já sabia tudo de cor, era um sonho que vivia sendo adiado e nasceu num momento muito solitário, durante a pandemia”, lembra. Sem conhecer nada do mercado editorial ou sobre os processos para se publicar um romance, Lorena foi publicando teasers da história nas redes sociais e chamou tanta atenção que logo teve que aumentar a tiragem das 200 cópias previstas apenas para familiares e amigos. Em um quase espelho de sua própria narrativa, o livro surgiu graças a uma rede de apoio de amigas que viraram ilustradoras, revisoras e editoras sem nunca o terem sido. “Foi uma comunhão de mulheres em suas primeiras vezes”, resume a autora, que demorou a aceitar que poderia caber nessa palavra. “Respeito tanto o que é ser escritora que não me via nesse lugar. Leio Lygia Fagundes Teles, por exemplo, e fico querendo ser elegante como ela”, acrescenta Lorena.
Arte como trabalho
Mas não é apenas de lirismo e fruição que vive uma romancista ou poeta. “Minha ambição é ter tempo de escrever. Eu trabalho para financiar meu tempo de escrita, para ter uma tranquilidade financeira que me permita fazer isso”, sintetiza Natalia Borges Polesso, pesquisadora e professora na Universidade de Caxias do Sul.
Eu trabalho para financiar meu tempo de escrita, para ter uma tranquilidade financeira que me permita fazer isso
Natalia Borges Polesso
“A poesia é uma amiga para escrever sobre problemas existenciais, elaborar minhas questões, mas, para quem não é herdeira, a realidade do aluguel se impõe”, acrescenta Adelaide Ivánova. “Preciso pagar o teto sobre minha cabeça e isso atrapalha meu ofício de poeta.” No ano passado, ela ficou sete meses desempregada devido à pandemia e pediu dinheiro emprestado até conseguir dois empregos assalariados (em uma revista e na campanha de uma deputada alemã de esquerda). Adelaide gostaria de escrever com conforto, com a unha pintada, sem sofrer. Para ela, é uma inversão celebrar uma autora como Carolina Maria de Jesus por ter conseguido escrever apesar de passar fome, de ser catadora de lixo, de ver os filhos chorando por pão. “Não dá mais para tratar o trabalho de arte e cuidado [historicamente considerado essencialmente feminino] como se não fosse trabalho”, reclama. Algo imperativo para que existam mais mulheres vivendo na literatura e sendo escritas por outras mulheres.


 Não é só para idosos: quando começar a ir ao geriatra
Não é só para idosos: quando começar a ir ao geriatra 6 inspirações para usar o Labubu nos looks do dia a dia
6 inspirações para usar o Labubu nos looks do dia a dia 7 itens baratinhos para decorar a casa gastando pouco
7 itens baratinhos para decorar a casa gastando pouco 12 posições sexuais possíveis para inovar na transa
12 posições sexuais possíveis para inovar na transa Sobretudo preto e cachecol: 5 ideias para brilhar com a combinação no inverno
Sobretudo preto e cachecol: 5 ideias para brilhar com a combinação no inverno