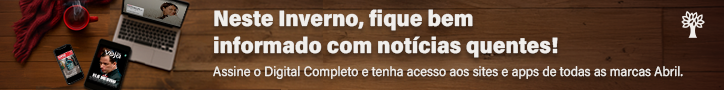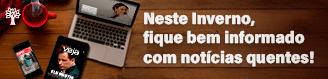Aline Bei e Ryane Leão conversam sobre literatura
Durante uma tarde em São Paulo, as escritoras compartilham com a nossa editora-chefe suas angústias, desejos e contradições diante do ofício da escrita

Tudo começou em março, quando Ryane Leão e Aline Bei se conheceram pessoalmente durante uma mesa que tive o prazer de mediar durante a Casa Clã – evento da CLAUDIA, Boa Forma, Bebê e Elástica para celebrar o mês das mulheres. Ali, a conexão e admiração que já existiam se transformaram em algo além. Tão além que palavras talvez nunca sejam capazes de traduzir essa conversa. Por isso as risadas, as lágrimas, os livros, as leituras, as declamações. O corpo, a presença, a alma.
Desse complexo modo de viver e se inscrever no mundo, nasceu a vontade de retomar esse encontro, durante um período de transmutações e desafios para ambas as escritoras. É que Aline e Ryane estão no processo de escrita e alinhamento dos respectivos terceiros livros.
Marcamos um café na Livraria da Vila, em São Paulo, e, na companhia da ilustradora Julia Jabur, pudemos realizar uma troca que vai além de qualquer vocabulário. Tentamos, aqui, expor sentimentos, seja na fala, seja no silêncio, seja no desenho, diante de algo tão grandioso: a linguagem. Essa que nos forma e nos dá os contornos para aquilo que tanto buscamos.
Convido você, leitora, a passar um café com a gente, sentar-se confortável na sua cadeira preferida, respirar fundo e imergir nessa paisagem com cheiro de página e gosto de chantilly.

Paula Jacob: Vivemos em uma época bastante próspera para a literatura no Brasil. Muitas autoras estão publicadas, outras traduzidas; além do mercado estar repleto de editoras, das maiores às menorzinhas. Isso sem contar o número de livrarias que voltaram a ocupar as ruas das cidades. Com um público leitor fiel ao que vocês escrevem e experiências já consolidadas no meio, o que vocês sentem que mudou nos últimos anos?
Ryane Leão: Eu nunca quero começar.
Aline Bei: (risos) A palavra mercado editorial me assusta um pouco. O que eu pensava é que em algum ponto da minha vida seria importante que eu me mantivesse artista pagando minhas contas como tal. Eu venho do teatro, que é uma arte também complexa no sentido de realização financeira. E pagar as contas é de uma forma prática, sabe? Ter dinheiro para resolver e fazer as minhas coisas. Mas não sabia quanto tempo isso ia demorar.
Quando lancei meu primeiro livro, fiquei contente em ter algo nas mãos. Agora, pensando na parte emocional, sinto que sou a mesma pessoa, mais amadurecida. Claro que algumas ilusões acabaram caindo pelo caminho, mas outras chances, que eu imaginava impossíveis, se apresentam como uma espécie de possibilidade, de lugar para habitar. Estou mais forte e comprometida com a arte.
Ryane Leão: Eu vim para São Paulo com 19 anos, meio perdida na vida, e descobri a escrita nesse processo solitário de viver aqui. Quando você sai de um estado como o Mato Grosso e vem para cá, é muito chocante. A palavra era minha amiga. O tempo foi passando, frequentava saraus e slams, vendi zine, e sempre tive o desejo de lançar um livro, ter ele, cheirá-lo, saber que era meu. Fiz um financiamento coletivo, já tinha um público que me conhecia e, no meio disso, a editora me chamou. Eles viram o meu trabalho nas redes sociais, um movimento ainda crescente no Brasil.
Pensando na coisa do mercado editorial, sinto que foi uma aposta: vamos lançar uma mulher negra, poeta, porque publicamos a Rupi Kaur e deu certo. Trabalhei muitos anos com outras coisas, e o texto ficava como o último momento do dia. Ainda depois do cansaço, existe a palavra. Meu pensamento é totalmente perdido, tá?, mas entendendo agora o meu primeiro livro, não sei se sou a mesma pessoa. Cunhei um termo para mim mesma que é “autobiografar o impossível”.
Ali, eu escrevi sobre alguém que eu não era, mas queria muito ser. Eu soprei o meu futuro. No segundo livro, já sou essa mulher, talvez até tenha ultrapassado ela, um fogo de artifício que já queimou e virou outra coisa. Eu queria tanto ser essa pessoa que nem vi acontecendo. Só aconteceu. Escritas de mulheres são escritas que autobiografam o impossível. A gente desenha qualquer futuro. Estamos sempre nos tornando, não há algo definitivo.
Aline Bei: Que lindo isso. Ouvindo você falar, fiquei pensando: há coisas não só que a gente tira da gente para empregar na personagem, mas as que a personagem tira dela pra empregar da gente. Com a minha personagem Júlia, por exemplo, foi o diário. Eu nunca tive diário, mas isso se apresentou como uma necessidade – e me apaixonei. No seu processo, o que as suas personagens anunciam para você?
Ryane Leão: Mesmo que eu escreva autobiografia, eu acredito que seja ficção. Tudo é ficção, na verdade. Talvez elas nem sejam um anúncio necessariamente do que eu vou me tornar ou do que eu quero ser, mas apostas. Várias apostas. O que eu aprendi nos dois livros juntos? A apostar todas as fichas em mim. Não é um jogo de sorte ou azar, é mais do que isso. Eu não acredito na dualidade. Um livro não é construído a partir de uma personagem só. Assim como eu acho que dentro da sua personagem moram diversas histórias, diversos outros personagens, diversas outras de você.
No meu segundo livro, escrevi Doce ou salgada. Abundante ou serena. Jamais peço desculpas por me derramar. Mas eu sou uma pessoa que ainda pede desculpas. E aí eu fico pensando na contradição. Volto para você, então: dentro das contradições, das suas personagens, das suas criações, como você lida com essa coisa de aprender e desaprender as coisas? Como você habita a contradição da escrita?
Aline Bei: Há uma verdade que é totalmente profunda e inesgotável dentro daquele minuto. Mas ela só existe naquele minuto. No próximo, ela já pode ser absolutamente irrelevante. E não é que aquele minuto deixou de ser verdade. Ele segue sendo, rendendo. O meu modo de lidar com essas contradições é recortando o tempo e o espaço com as pessoas dentro e fazendo cercas. E que essas cenas possam se sobrepor. Uma espécie de romance.
Chamo meu livro publicamente de romance, mas, dentro do meu ateliê, da minha escrita, me pergunto: será que é? Essa sobreposição de imagens, que o romance e a poesia fazem, também pode resultar em um livro de poemas. Existe uma ordem, um fio que a gente traça como uma proposição artística. Então, o que uma cena depois da outra vai dizer ou desmembrar de um personagem?
Para mim, é mais importante que a gente desconheça o personagem do que que a gente conheça ele demais. Porque as pessoas estão em um constante estado de invenção de si. E descoberta também. Eu não sei o quanto a gente inventa vindo de fora e o quanto que vem de fato de dentro. Não sei se eu respondi…
Ryane Leão: Respondeu sim.

Aline Bei: Aproveitando esse fluxo: penso que na escrita a gente pode testar outras possibilidades de “eus”. Você tem uma lembrança do momento onde a arte entrou na tua vida pela primeira vez?
Ryane Leão: Minha memória é bagunçada. Quando eu era pequena, tinha duas coisas que eu gostava muito de fazer. Talvez a arte tenha entrado ali. Meu pai era uma pessoa que tocava violão, então ele tinha muitos discos e CDs em casa. E eu tirava todos os encartes e ficava grifando as coisas que gostava. Fazia muito isso com o Chico Buarque. Assim também foi a forma que aprendi inglês, na época da MTV principalmente – eu tenho 34 anos, né? (risos).
A segunda coisa, olha que doideira: minha mãe sempre comprava aquelas coleções especiais de livros e CDs que vinham no jornal. Eram coletâneas de jazz, blues… Não sabia o que aquelas músicas estavam falando, mas eu as encenava na sala de casa depois que todo mundo tinha ido dormir. Talvez eu já estivesse autobiografando o impossível. A música foi meu primeiro contato e acho que, a partir dela, desenvolvi essa capacidade inventiva na minha cabeça. E você?
Aline Bei: Você trouxe essa questão da revista e jornal, eu também tinha uma conexão com elas, talvez a nossa geração toda. Eu assinava uma revista de ciências, e me lembro que em uma das edições veio um bonequinho. Eu era muito tímida na infância, ainda sou, tinha só uma amiga na escola e quando ela faltava, ia me refugiar na biblioteca – um desses portais também. Mas guardei esse fantoche e lembro de uma aula de português que a professora pediu para fazermos um trabalho de performar algo.
Coloquei uma toalha na mesa, fiquei escondida embaixo dela e usei o boneco na apresentação. Não lembro da história que contei, mas a classe riu. Eu nunca tinha tido uma atenção, e isso me colocou num estado de “nossa, olha o poder das histórias”. Ali, fiquei com um desejo imenso de fazer teatro. Já me envolvia nas coisas da escola e amava decorar texto. Inclusive, isso que você disse do grifar, achei tão bonito, porque é uma seleção do afeto, né? E eu memorizava também por ser o jeito de levar o livro comigo para casa. Era um desejo de performance muito grande.
Ryane Leão: Talvez uma vivência sem celular… Tínhamos um outro jeito de explorar o universo e a gente mesmo.
Aline Bei: O corpo era mais importante.
Paula Jacob: Eu e a minha irmã também tínhamos essa coisa da dança, das apresentações. Cada uma escolhia uma música e se apresentava na sala de casa. Ou juntávamos os primos e fazíamos encenações para a família.
Aline Bei: E a gente levava muito a sério, né? Esse comprometimento no corpo da criança.
Ryane Leão: Um comprometimento com a invenção mesmo. Vários universos. E mesmo que a infância seja um lugar também de dor em alguns processos, talvez essas fugas fossem ferramentas de sobrevivência. E aí queria saber de você quando foi que a palavra começou a te perturbar? Você disse que não tinha o hábito do diário, mas a gente sempre tem um jeito de escrever. Para mim, foi começar a anotar as frases marcantes que eu lia ou ouvia na TV. Tinha meus diários, mas também esses cadernos.
Aline Bei: Minha mãe me deu uma agenda com as páginas coloridas, que tinham poemas próximos às datas. Fragmentos. Aqueles poetas foram importantes para mim naquela idade, adolescente. Mais à frente (ou mais atrás, não me lembro), meu pai passou por uma situação financeira delicada e, na tentativa de ajudá-lo, eu escrevi um livro.
Ryane Leão: Eu amo a cabeça da criança.
Aline Bei: Sim, foi um clique. “Vou escrever um livro de poesia, vender muito e ajudar ele”. Depois, claro, quando fui estudar Letras, na faculdade. Ali, a escrita saiu de forma muito orgânica – o que foi um susto. Eu não sabia que escrevia, ou pelo menos não tinha percebido ainda. De repente, estava dentro de mim de uma forma vulcânica.
Ryane Leão: Acho que você escrevia de outras formas, né? Com o corpo…
Aline Bei: Exato! Queria te perguntar, enquanto poeta, você acha que é possível ensinar poesia? Não a ler, mas ensinar alguém a ser poeta?
Ryane Leão: Já faz uns sete ou oito anos que trabalho com oficinas, hoje elas têm um formato bem diferente do início, mas lembro da frase de Audre Lorde: “Ensinar poesia é ensinar intimidade”. Não sei se a gente ensina alguém a ser poeta, mas podemos indicar caminhos para um olhar poético. Será que a gente não ensina coragem?
Também não sei dizer se a gente nasce poeta, é outra indagação. Mas penso que é a coragem, de não fugir das coisas, e se optar por fazer isso, pelo menos escreva sobre. Já falo há algum tempo o quanto lamber o dedo para passar a folha, a mão se mexendo de nervosismo, a palavra fica ali. Ensinar poesia talvez seja mostrar onde ficam essas palavras. Talvez você tenha perdido uma palavra no táxi hoje, no gole que deu nessa água, no pedido confuso de um café. A gente ensina a resgatar palavras perdidas. E para você?
Aline Bei: Essa pergunta rende muito, porque nem sempre a poesia está na poesia. A gente pode encontrá-la de maneiras inesperadas, na feira, numa fruta, num cheiro, num modo. Ela não precisa de palavra. Esse olhar talvez seja o centro da poesia, um jeito de absorver certas coisas que acontecem e não só olhar e sentir, mas também conseguir transferir essa emoção viva para o outro. Para isso, precisamos que o corpo esteja aberto, disposto a aprender.

Ryane Leão: Concordo. Há algum tempo, dei uma oficina sobre exercitar o olhar poético, desembrutecer o olhar. Tenho um termo que uso com uma amiga minha que é “estado bolha de sabão”, saímos desse dia a dia bruto e vemos o mundo a partir dessa bolha multicolorida. Você sabe o que te leva para esse lugar?
Aline Bei: Incrível essa pergunta, ela também me leva para uma memória do teatro. Eu sofri bullying na escola, o ensino médio costuma ser cheio de demandas, e eu nunca fui uma pessoa boa em fazer coisas por demanda. Sabe? Fazia aborrecida, com o corpo encurtado. Além disso, tinha um atrito em casa em relação ao meu comprometimento com a arte, que assustava os meus pais. Então, quando eu ia fazer teatro, era um momento onde finalmente eu tinha um corpo. E esse corpo não era pré-julgado e nem era um corpo que precisava render num sentido capitalista-vestibular-profissão. Era um corpo que era escutado antes de qualquer coisa. Esse estado era muito importante.
E aí, quando comecei a escrever, senti falta disso. De ter um espaço onde eu pudesse imergir, né? Acabei encontrando isso com a música, curiosamente. E acho bonito esse encontro de palavras, porque forma uma bolha mesmo. Lygia Fagundes Telles tem um conto que se chama A Estrutura da Bolha de Sabão. Agora, acho que por tanto tempo eu tenho me protegido nessa sala de ensaio imaginária e verdadeira que tem sido mais difícil sair da minha bolha. Ela ficou firme, um jeito profundo de habitar. Eu prefiro estar dentro do que fora.
Paula Jacob: Engraçado perceber a música tão presente em ambas as histórias. Mas a ausência do som também faz parte dela, e da poesia. Só ler algum poema em voz alta para entender. Como vocês trabalham esses silêncios?
Ryane Leão: Eu gosto da palavra, mas ela me irrita de vez em quando. Ainda assim, continua sendo minha amiga. Então, às vezes, eu preciso que a palavra fique adormecida, quieta. Vou ao teatro, num concerto, um show, assisto um filme. A palavra me cansa, mas ela está em todos os lugares que busco inspiração. Olha como ela é! E ela é solta, não é minha. Demorei, enquanto escritora, para entender isso. Ela não tem nada a ver comigo. Vem a hora que quer, vai embora quando deseja. A palavra é selvagem, um bicho solto. Faz o que quer.
Aline Bei: Costumo dizer que eu trabalho na fronteira das coisas. Eu só consigo pensar na escrita se emanada não só com o teatro, que é o lugar onde eu conheço um pouco melhor, mas também na música, no cinema, nas artes plásticas. Na performance em si. O corpo do artista está sempre na vontade de comunicar, trocar, ser escutado, ampliar, expandir. E acredito que a música tem um papel fundamental nisso. Por exemplo, na minha formação, eu assisti muitos filmes da Disney, e sentia um impacto dessas histórias no meu corpo de criança, a ponto de me emocionar. E quando começavam as músicas…
Ryane Leão: Eu escuto até hoje as músicas da Disney.
Aline Bei: As letras eram fortes. É como se a emoção entrasse numa voltagem furiosa. Parece besta trazer um negócio da Disney, mas é a nossa memória.
Ryane Leão: É porque a gente está passeando. Entramos num tempo aqui…
Mas toda vez que um texto consegue encontrar a sua chave musical, o seu ritmo – que pode ser o do silêncio, do jazz, do samba, ou o que for -, a mensagem explode. O livro se encontrou. Eu costumo falar que os textos chamam a gente para dançar. E cada um vai te chamar para dançar uma coisa diferente, mesmo que descompassada ou ruim. Tem texto que te chama para você entender qual é a dança que você está precisando. A música é muito presente na minha vida, quando a palavra não se buscou, eu busquei a palavra na música.
Aline Bei: A arte nos ajuda a compreender os momentos da vida. É como se fosse um oráculo. Tem muita coisa que vem antes da escrita. Eu acho que as pessoas que ainda não tenham experimentado o estado da escrita têm a impressão de que a escrita vem para colocar nome nas coisas. E eu acho que ela não vem para isso. As coisas sem nome continuarão sem nome. Ela é um rito, uma outra forma de expansão do corpo. Mas ela não vai explicar, nem facilitar, nem salvar.
Ryane Leão: A poesia é uma entidade delicada. Você falou sobre consultar o oráculo. Eu, macumbeira, penso que faz total sentido. A conexão divina que a gente tem dentro da religião de matriz africana é pela palavra. Seja oral, seja escrita. Então, talvez a palavra esteja nesse lugar de divindade, mas não como salvação. Eu já tive muito essa relação com a palavra, de querer que ela me salvasse. Mas tenho pensado na palavra enquanto um lugar onde tudo pode acontecer. Eu posso escrever um texto e me curar. Ou eu posso escrever um texto que faça sentido daqui dez anos. Ou eu posso somente escrever um texto. Ou eu posso não escrever um texto.
Aline Bei: Tem muita gente que tem a impressão de que o livro vai te salvar. Mas eu acho que nada salva ninguém, porque também não acho que ninguém precisa ser salvo.
Ryane Leão: Mas as pessoas ficam nessa expectativa. “Esse livro salvou a minha vida.”
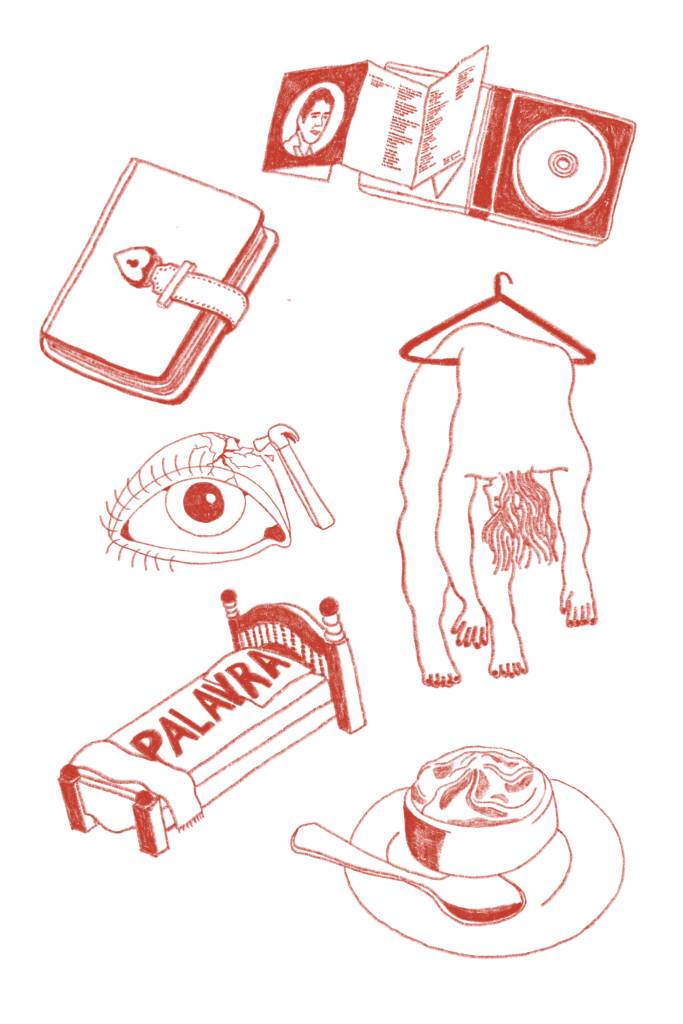
Paula Jacob: Imagino que vocês recebam mensagens de leitores falando disso. Penso que entra no lugar da responsabilidade diante da escrita. E vocês são bastante ativas nas redes sociais, o que pode gerar uma falsa sensação de proximidade para alguns leitores. Onde habita a escritora de vocês em relação ao público?
Ryane Leão: Posso complementar? Dentro disso tudo que a Paula falou, queria entender para você, Aline, o que é a palavra referência?
Aline Bei: É difícil, porque são muitas linhas, bordas. Hoje, com as redes sociais, a comunicação é rápida. Se o leitor tivesse o tempo de ler, escrever uma carta, mandar pelo correio, essa carta vai envelhecer no trajeto… A palavra muda. É esse o tempo que a internet não tem. Muitas vezes, o que chega para você pelo leitor é algo do calor do momento do término do livro. As pessoas querem ver quem eu sou. Acham que eu sou uma senhora que mora na Alemanha, ou a personagem do livro.
Tem tudo isso misturado, né? A imagem que a gente faz da escritora, do escritor. A imagem que a gente tem de um escritor. O que é um escritor no imaginário coletivo. Um homem, branco, morto, estrangeiro. Escrever é uma experiência de mão dupla. Eu tento dar o peso que a coisa tem, que não é o de uma verdade absoluta, mas de uma verdade do momento. Que deve ser acolhida e respeitada dentro de um limite. Isso não vai influenciar o meu modo de escrever.
Agora, a questão da referência, eu tinha essa pergunta, Qual a sua relação com as suas referências?, se em algum momento elas te mobilizam diante do que já fizeram. Ou se elas são sempre faróis. Se elas te sufocam… Essa relação está aqui nas minhas questões, já deixo no ar para você.
Mas as minhas relações com as minhas referências costumam ser muito amigáveis. Eu faço pactos com forças maiores, não estou sozinha quando conto uma história. Estou com tudo o que vivi, li, sou. E com as minhas referências mais nítidas que estão na minha parede. Coladas mesmo. Fotos das escritoras e artistas que eu amo. A gente vai definindo um modo de dizer que é único. E não porque é único por mim, mas por tudo que eu li e fiz no tempo e momento que fiz, essa colagem vai se dando numa espécie única de possibilidade que sou eu.
Se eu leio Conceição Evaristo, eu vou ler Conceição com quem eu sou e com tudo o que eu tenho. Então a minha Conceição é a Conceição em mim, não é a Conceição em outra autora. As minhas referências são partes da minha sensibilidade, me ajudam, me iluminam, não me oprimem em nenhum momento, porque eu olho pra elas sempre como um farol. E eu humanizo as minhas lendas.
Ryane Leão: E ser considerada referência? Aí eu acho sinistro. É estranho, né?
Aline Bei: Acho muito cedo. Não vou nem entrar nessa. Já respondi mentalmente (risos). Mas como é a sua relação com as suas referências? E com essa parada que ela falou também, da dos leitores.
Ryane Leão: Essa parte dos leitores é delicada, porque como eu estou ativa nas redes sociais há muito tempo e os meus escritos são em primeira pessoa, eles realmente acham que sabem tudo que de mim. Sendo que nem eu sei quem eu sou. Hoje, especialmente, não faço a mínima ideia. Tem uma outra impressão que eu tenho sobre esse peso da referência, o peso que as pessoas colocam em escritoras mulheres, que é: eles acham que a gente já sabe sobre tudo, e eu acho esse lugar perigoso.
Tem um texto no meu segundo livro, talvez seja o meu favorito: Agora que já sei que eu posso voltar, quem que vai me buscar no limbo, no poço? Eu sempre falo sobre esse lugar de “eu sou ótima em morrer, e em retornar”. Ótima mesmo, morro de formas formidáveis. Mas eu odeio esse lugar de que “a Ryane pode sobreviver a tudo”. Talvez possa, mas não sei se é isso. Me desumaniza um pouco.
Agora, dentro da questão das referências, elas caminham comigo, elas conhecem o som da minha risada. Eu não coloco elas em pedestais. Coloco as minhas referências no caminho da ancestralidade, de mulheres que vieram antes. Se ser referência é uma ação, o que eu tento fazer é talvez pavimentar um caminho para outras pessoas, levá-las comigo e jamais subir em um pedestal.
Eu tento humanizar essas referências também, porque as pessoas tendem a colocar a gente em lugares soberanos, isso me dá medo. O que eu mais tento mostrar para as pessoas é que eu também estou perdida, igual elas. Também procurando um caminho, também tentando. Talvez ser referência é mostrar que você também está tentando.
Aline Bei: Uma contradição que eu queria pôr na roda é: com o texto das minhas referências, principalmente as mulheres mais velhas, se ainda vivas, sinto uma veneração corporal, uma espécie de agradecimento por tudo o que elas fizeram. Estar perto de Conceição, por exemplo, me dá palpitação, suor.
Ryane Leão: Eu também. Ai, que raiva! Porque aí tudo vai por água abaixo. Eu fico nervosa, aí eu vou fazer uma pergunta e tremo. “Ai meu Deus, será que eu peço autógrafo?” Às vezes, nem peço porque eu fico pensando que já tá todo mundo em cima. Eu fico suada, eu falo mal, sabe? Fiz uma mesa recente com Margareth Menezes, não consegui declamar um poema; na hora da saída, ela veio me abraçar, agradeceu, e eu não falei nada.
Aline Bei: É muita gratidão, e é também admiração por tudo que a pessoa é, fez, faz…
Ryane Leão: Um lugar de respeito, de tradição, talvez. Se a Conceição chegasse aqui e falasse por três dias seguidos, eu ficaria três dias seguidos ouvindo, venerando. É bem contraditório, porque eu não gosto quando fazem comigo.
Aline Bei: O texto da pessoa é maravilhoso, mas acho que não há nada como um par de olhos, um rosto. Nunca vou superar as minhas ídolas pessoalmente.
Paula Jacob: Nosso tempo está acabando, mas queria ouvir de vocês um pouco sobre o terceiro livro. Como diz uma amiga minha, spoilers do bem…
Ryane Leão: O terceiro livro virou um mito, uma lenda urbana (risos). Ele surgiu no meio da pandemia, mas esse período me mingou, obviamente. Só agora eu entendi o terceiro livro, que é um lugar completamente diferente dos anteriores. Ele se perdeu em algum momento e, agora, estou começando a encontrá-lo. E ele é muito deste lugar do desconhecer-se. É como se o passado já não me assombrasse tanto, e o futuro fosse algo confortável. E o presente, como ele é difícil de ser descrito, é o livro.
O terceiro livro é uma linha em construção de mim mesma. Eu falo mais sobre a fraqueza do que a cura. Eu falo mais sobre estar perdida do que sobre se encontrar. Eu falo mais sobre as galáxias do que sobre o pé no chão. Quero entender esses outros pensamentos. Ele está surgindo a partir de um processo lento. Eu acho que esse livro é uma frequência imperfeita em construção. Estou construindo esse livro todo dia, vivendo ele. Talvez eu escreva um texto sobre hoje.
Aline Bei: Você falou da linha, do presente, e o livro que estou escrevendo agora é muito sobre essa linha do presente. Nos outros dois, tiveram saltos temporais. Eu tenho entendido que este é um livro que se passa em alguns meses. São presentes, né? É tudo parte de um corpo contínuo, que está no aqui e agora. É escrito em terceira pessoa com três corpos principais, uma bisavó, uma avó e uma neta. E há uma outra mulher, a mãe, que é uma ausência.
Estou escrevendo ele desde 2021, portanto, na segunda reescrita. Ainda não tenho certeza, mas sinto que vou reescrevê-lo mais uma vez. E devo voltar uma quarta para ver o que sobrou, e aí começar um trabalho com as minhas editoras. Então, acho essa palavra “lento” linda. Porque é a palavra da criação… A criação precisa ser no tempo dela. A platéia sabe esperar. Tem pipoca, tem música, tem tudo. Mas o livro precisa do tempo dele para ele crescer e ser o maior e melhor que ele pode ser. Estou amando escrever, mas é o livro mais difícil que escrevi até hoje…
Paula Jacob: Acho que para encerrar, vocês podem, cada uma, fazer mais uma pergunta.
Aline Bei: A palavra inspiração tem me oprimido e sinto que faz o mesmo com muitas escritoras. Porque parece que é um estado de espera por alguma coisa que vai chegar. “E se não chegar?” Acabou tudo? O trabalho vai ficar pálido? Por outro lado, sei que existe uma parada… Você está lá trabalhando e alguma coisa chega, cola em você, um brilho. E parece que você consegue perfurar algo importante que antes não estava conseguindo. Eu não sei se isso chama inspiração. Mas eu queria saber qual é a sua relação com essa palavra?
Ryane Leão: Eu não gosto muito porque ela vai para um lugar de fórmula. Então, a Aline se inspira em árvores, olhar o mar às terças-feiras e fazer bolo aos domingos. Que pode ser, de fato, lugares que você se inspira. Mas não é isso, entende? Não amarrado desse jeito, porque pode ser que o bolo aos domingos já seja o seu poema.
Não gosto dessa pergunta, “o que te inspira?”, porque eu acho estática, com localismo de tempo-espaço. E não tem. Pode ser algo mais volátil – o que te movimenta? Quais são os terremotos e maremotos que movem as suas placas tectônicas? Qual movimento te faz escrever? Sempre num presente. Pensando nisso, a minha última pergunta para você: o que você sentiria para o seu corpo hoje?
Aline Bei: É muito linda… Eu sentiria para o meu corpo hoje que o tempo da minha história, que estou escrevendo há anos e, talvez, escreva por mais anos, não é uma linha. O tempo da nossa criação é espiralar. A gente não precisa ter medo do tempo de fora. Porque o tempo de dentro é o tempo mais importante. Quando a gente fala de escrita. Essa calma. Esse espiralar. Essa paciência com o tempo da palavra. O livro já está escrito em algum lugar. Só que a gente precisa fazer o trabalho físico.
Ryane Leão: Como tenho essa coisa das galáxias, já penso num multiverso. Em algum multiverso, a gente já fez essa escolha. O livro está pronto. E a gente visualiza até. Mas, de alguma maneira, ainda aqui, eu preciso dar cor às coisas, desenhar um caminho. Ao mesmo tempo, eu já vi esse caminho. Mas alguma coisa te puxa de novo para esse tempo. E é um tempo que você precisa, né? Bonita essa resposta. Eu gostei.


 Não é só para idosos: quando começar a ir ao geriatra
Não é só para idosos: quando começar a ir ao geriatra 5 perfumes baratinhos e semelhantes aos de marcas de luxo
5 perfumes baratinhos e semelhantes aos de marcas de luxo 6 jeitos estilosos de usar meia-calça no inverno com elegância
6 jeitos estilosos de usar meia-calça no inverno com elegância Quem era Juliana Marins, brasileira que morreu em trilha de vulcão na Indonésia
Quem era Juliana Marins, brasileira que morreu em trilha de vulcão na Indonésia 12 posições sexuais possíveis para inovar na transa
12 posições sexuais possíveis para inovar na transa