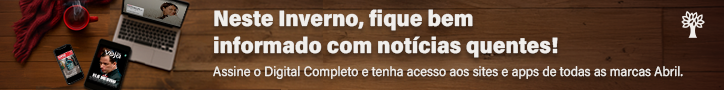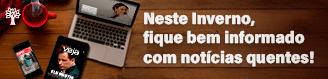As mulheres latinas desafiam a implacável violência política de gênero
Elas são atingidas desde que disputavam o direito ao voto. Nestas eleições, as brasileiras têm a chance de ampliar as vozes femininas contra esse legado


O silenciamento atravessa a trajetória das mulheres na política. Pela ausência delas nesses espaços, ao terem suas ideias ignoradas ou ao serem categoricamente caladas, o silêncio é imposto. Nesse universo, o sufocamento das vozes femininas se manifesta por meio de condutas hoje interpretadas como violências, que se desdobram em múltiplos padrões, dos sutis aos mais intensos. Essas violências estão entre os principais empecilhos para que elas exerçam essa parcela da cidadania, ganhando contornos locais em cada democracia. Um dos mais abrangentes estudos sobre o tema, feito pela União Interparlamentar em 2016 com mulheres parlamentares de 39 países em cinco continentes, mostrou que 82% delas já tinham sido vítimas de violência psicológica, boa parte com ataques de cunho sexual; um quinto presenciara violência física contra colegas dentro das instituições e quase a metade já havia sofrido ameaças, até mesmo de morte e estupro. Na América Latina, as coações têm agressividade particular, semelhante a outras violências sexistas e manifestações de masculinidade observadas na nossa cultura. Em espanhol, o comportamento foi contido na expressão violencia política de género, transposto para o português. Identificada, a discussão ganha corpo no Brasil. “A região abriga países que lideram em feminicídios e estupros. Essa mentalidade se reflete na política e se torna sofisticada ao acontecer em espaço público”, diz Beatriz Pedreira, diretora do Instituto Update, que em julho lançou um levantamento sobre mulheres eleitas nos últimos anos em seis países latino-americanos, incluindo o Brasil.
Apesar do laço que une o exercício político das mulheres na América Latina, as circunstâncias são heterogêneas. A começar pelo sufrágio, oficializado no Equador em 1929, mas que só chegou ao Paraguai três décadas depois. Até hoje, na maior parte dos países as mulheres são minoria nos parlamentos – no Brasil, em 2018, elas passaram a representar 15% da Câmara, do Senado e das Assembleias Estaduais. Como se sabe, no nosso país são obrigatórias as cotas de ao menos 30% de candidaturas femininas nas eleições e igual parcela de recursos partidários para as campanhas delas. Por outro lado, há nações que propõem paridade, como México, Costa Rica e Bolívia. Neste último, desde 2010, homens e mulheres devem estar em igual número nas candidaturas e as chapas precisam ser mistas; assim, desde 2014, as casas apresentam divisão igualitária.
No entanto, o país vizinho não passa ao largo da violência política de gênero. Em março de 2012, o corpo de Juana Quispe Apaza, primeira mulher vereadora de Ancoraimes, na província de Omasuyos, departamento da capital, La Paz, foi encontrado próximo a um rio com marcas de homicídio por enforcamento. Ela vestia uma saia rosa longa, típica das mulheres bolivianas do campo. Meses antes, havia denunciado vereadores alegando que estava sendo pressionada a renunciar desde que assumira, dois anos antes, o que a impossibilitava de exercer o cargo. Quatro políticos chegaram a ser indiciados, mas nunca houve sentença para o crime. Diante da morte violenta, que provocou forte comoção, dois meses depois foi instituída nacionalmente a Lei nº 243, enquadrando violências física, sexual e psicológica contra mulheres candidatas, eleitas ou funcionárias de gabinetes e propondo punições de acordo com o código penal.

Mesmo com a lei, única em toda a região, os ataques não cessaram e outras vereadoras foram mortas ou agredidas. Em 2019, Patricia Arce, prefeita de Vinto, na região de Cochabamba, foi capturada por manifestantes em um confronto partidário, que lhe deram um banho de tinta vermelha. Eles a obrigaram a se ajoelhar na rua e cortaram seu cabelo à força. “Até hoje, as instituições não criaram mecanismos para se adequar à lei; então ela não é cumprida efetivamente. Também nunca houve uma condenação nem mesmo para os casos mais simples, de pressão dos suplentes para que elas renunciem”, diz Mónica Novillo, diretora da organização boliviana Coordinadora de la Mujer, atuante na questão há cerca de duas décadas. Leis semelhantes à 243 foram propostas em Costa Rica, México e Peru, mas não chegaram a ser ratificadas com a carga de gênero que a legislação boliviana trata. No Brasil, Amazonas, Rio de Janeiro e Tocantins aprovaram, em 2019 e 2020, seus Estatutos da Mulher Parlamentar para tratar de violência.
“Embora a violência política de gênero tenha ganhado mais destaque a partir dos países com maior representatividade feminina, não podemos dizer que ela seja agravada com esse movimento, e sim que as mulheres puderam compartilhar mais experiências entre si”, explica a cientista política colombiana Juliana Restrepo Sanín, professora da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e autora de estudos sobre o tema. Mesmo fora da região, a discussão emerge nas vozes de mulheres latinas, como aconteceu em julho no discurso da congressista americana Alexandria Ocasio-Cortez em resposta ao colega Ted Yoho, que a teria chamado de “nojenta, louca e vadia” nos bastidores. “Isso não é novo, e esse é o problema. Não é um incidente, é uma cultura de impunidade, de aceitação de linguagem violenta contra as mulheres e toda a estrutura de poder que a sustenta”, afirmou.
Versões brasileiras
A Rua Joaquim Palhares, centro do Rio de Janeiro, foi cenário para o caso nacional mais emblemático de violência política em anos recentes. Em março de 2018, a vereadora carioca Marielle Franco (Psol) foi morta a tiros quando voltava de um evento para mulheres negras; o motorista dela, Anderson Gomes, também morreu no atentado. Apesar de suspeitos terem sido presos, a investigação ainda está em aberto e nenhum mandante foi acusado. Depois da morte de Marielle, ganhou força no Brasil a discussão sobre como os ataques dentro da política têm, frequentemente, elementos de gênero, raça e origem social – e se tornam ainda mais nocivos quando há a soma deles. Casos de perseguições, agressões físicas e homicídios são, evidentemente, a manifestação mais grave da violência política de gênero, que costuma ser menos escandalosa em seu dia a dia. Muitas vezes, ela começa antes mesmo da obtenção de um cargo eletivo, em campanhas e dentro dos partidos.
Em estudo do Instituto Alziras, que entrevistou 45% das 649 prefeitas eleitas para o último mandato (2017-2020), cerca de metade assinalou a falta de recursos e 30% o assédio e violências simbólicas entre as principais dificuldades enfrentadas na carreira política. Além disso, 53% afirmaram já ter sofrido agressões políticas pelo fato de serem mulheres; a percepção aumenta entre as mais jovens, pós-graduadas e que não têm familiares políticos. Chama atenção ainda que, na parcela que declarou nunca ter sofrido esse tipo de agressão, algumas responderam já ter sido ridicularizadas, menosprezadas ou ameaçadas. “A violência política tem o objetivo de perpetuar a velha representatividade e, quando mulheres mais jovens a percebem mais claramente, vemos que isso é fruto de um movimento que julga inaceitável o assédio, que agora chega a esse espaço”, diz a pesquisadora da entidade Roberta Eugênio. Desde 2018, quando passou a valer a regra de repartição do fundo partidário por gênero, potenciais candidatas puderam contar com mais acesso a recursos, mas lidam com o receio de serem usadas como “laranjas”, isto é, se de se tornarem candidatas apenas para que o dinheiro possa ser realocado. Também é comum que, como eleitoras, as mulheres sejam constrangidas a não escolher os próprios candidatos ou a não opinar.

Ao superar os entraves de campanha e alcançar um espaço por longo período restrito a homens brancos, a figura feminina (principalmente negra, indígena ou LGBT+) ainda segue fora do padrão esperado. Portanto, mesmo o que aparenta ser elogio pode guardar estereótipos e ofensas, vindos de colegas ou do público – comentários sobre a aparência delas, em vez de referentes às suas ideias, ou sobre como se comunicam, quando não há os mesmos questionamentos em relação aos homens. Tal comportamento desvia a atenção para outras características que não o desempenho delas à frente de um cargo público. “Não atentamos como violência alguns hábitos masculinos, como olhar de cima a baixo e proferir falas reducionistas. Ouvir ‘Você é fotogênica’ é embaraçoso. A premissa é de que estamos invadindo um espaço e, por isso, chegamos pensando que precisamos provar nossa competência por sermos mulher”, diz Patricia Bezerra (PSDB), vereadora da capital paulista. Dentro das Câmaras municipais ou federais, no Executivo ou no Judiciário, essas violências não se restringem a certos cargos. Em outro estudo da União Interparlamentar, de 2018, com 45 países da Europa, 40% das funcionárias parlamentares relataram já ter sido assediadas sexualmente nas instituições.
A premissa é de que estamos invadindo um espaço e, por isso, precisamos provar nossa competência por sermos mulher
Patricia Bezerra, vereadora
“Isso acontece também com secretárias e assessoras e chega até o topo. É só lembrarmos dos ataques misóginos sofridos pela ex-presidenta Dilma Rousseff, como os adesivos para carros que a colocavam de pernas abertas”, diz Beatriz, do Instituto Update. Durante a votação que aprovou o impeachment da ex-presidenta na Câmara, em 2016, mulheres de diferentes partidos tinham a palavra interrompida por gritos de colegas homens. As tentativas de impedir a fala de mulheres figuram entre as principais queixas de políticas e estão entre as observações de quem estuda o tema – são apontados desde críticas sobre a voz delas e alegações de que elas não sabem o que dizem e, portanto, deveriam ficar caladas até cortes constantes ou deboches. “Isso faz com que elas deixem de se manifestar ou, o que é mais difícil de observar, que elas nem se sintam seguras para começar”, diz a cientista política Tássia Rabelo, professora da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Esse tolhimento pode ajudar a explicar por que homens saem dos mandatos falando por mais tempo no Congresso, enquanto as mulheres se expressam cada vez menos, segundo análise publicada em Caleidoscópio Convexo: Mulheres, Política e Mídia (Editora Unesp), dos professores da Universidade de Brasília Flávia Biroli e Luis Felipe Miguel.
“A ideia é que política é para meninos. No Senado, cansamos de dizer que eles precisam nos esperar terminar de falar; eles alegam pouca paciência, como se não soubéssemos explicar”, diz a senadora Kátia Abreu (PP-TO). “Frequentemente, mulheres são incluídas apenas em áreas de assistência social, ficando de fora de discussões sobre impostos ou infraestrutura”, completa a senadora, primeira mulher a assumir o Ministério da Agricultura, em 2015. É como se houvesse outro gargalo dentro das instituições. Nunca houve mulher na presidência da Câmara ou do Senado, que pauta as votações. Nos comitês e comissões, que reúnem representantes de partidos para discutir textos antes de irem a plenário, a proporcionalidade feminina é frequentemente menor do que no todo – a principal é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Em 2019, a deputada federal Talíria Petrone (Psol-RJ) compôs o grupo: “Não teve vez que eu falasse que não era interrompida ou tinha o microfone desligado, o que não acontecia nem com os parlamentares de oposição homens; em reuniões internas, ligavam para outro líder em vez de me ouvir como representante partidária”. Atualmente em licença-maternidade, ela conta que uma jura de morte foi interceptada pela polícia em agosto e que intervenções do tipo acontecem desde antes do atual mandato. “Quando era vereadora, ia trabalhar de ônibus e, de repente, não podia mais. Estar sob constante ameaça por parte de grupos de ódio fez com que não pudesse ir às ruas exercer meu dever como gostaria, nas comunidades”, diz, referindo-se às violências que ultrapassam as fronteiras dos parlamentos.
“Estar sob constante ameaça por parte de grupos de ódio fez com que não pudesse ir às ruas e exercer meu dever como gostaria, nas comunidades”
Talíria Petrone, deputada federal
Dentro do Congresso Nacional, o órgão que acolhe queixas ou denúncias sobre assédios é o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Instituído em 2001, é formado por congressistas e pode estabelecer sanções como suspensão por até seis meses e perda do mandato. Durante esse período, na Câmara, as mulheres corresponderam a menos de 8% dos seus integrantes, conforme levantamento da professora Tássia. O primeiro caso rotulado como violência de gênero foi registrado em 2014, no episódio em que o então deputado federal Jair Bolsonaro disse à deputada Maria do Rosário (PT-RS) que “não a estupraria, porque ela não merecia por ser muito feia” durante uma sessão. A frase aludia a uma discussão de 2003, captada por cinegrafistas da TV, em que ela afirmava que Bolsonaro incitava a violência sexual e ele retrucava com a mesma sentença. Em seguida, na gravação, eles batem boca, ele a empurra e a chama de vagabunda. O xingamento de 2014 de Bolsonaro chegou ao Conselho, mas o caso foi arquivado com o término da legislatura. “Essa frase passou a ser repetida, criaram memes com as minhas palavras. Em qualquer lugar que vá ou nas redes sociais dizem que eu defendi um estuprador, uma outra versão dos fatos”, afirma a deputada. Em 2015, Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal a pagar indenização de 10 mil reais por danos morais. Recorreu então às Supremas Cortes, que mantiveram a decisão e entenderam não haver imunidade parlamentar nesses casos. Atendendo à Justiça, ele pediu desculpas e reforçou que tem respeito por todas as mulheres.

Houve ainda outros seis casos do tipo no Conselho, todos arquivados ou sem desfecho. Em um deles, de 2015, o então deputado Alberto Fraga (MDB-DF) afirmou que “mulher que participa da política e bate como homem tem que apanhar como homem também” – a maioria votou pelo arquivamento. Dois anos depois, Maria do Rosário voltou a ser tema devido ao compartilhamento de imagens íntimas da filha adolescente dela em montagem que a comparava com os filhos de Bolsonaro. Na perspectiva dela, um dos ataques mais comuns são os dirigidos à maternidade ou às relações familiares das mulheres. No ano passado, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), ex-líder do governo, afirmou em fala na Câmara que, ao romper com o clã Bolsonaro, vinha sofrendo perseguições nas redes sociais e que o filho dela, de 11 anos, vira montagens do rosto dela em corpos de prostituta. “Nunca fui de me vitimizar. Mas foi a primeira vez que eu realmente me senti vítima do mais sujo machismo. A minha família não vai passar por isso”, disse na ocasião.
A internet tem sido um campo fértil para ataques políticos, e as fake news frequentemente servem como ferramentas para as agressões. Durante as últimas eleições presidenciais, Manuela D’Ávila (PCdoB), vice-candidata à presidência, protagonizou boatos de que estaria por trás da facada que atingiu Jair Bolsonaro. “Saber que eu seria alvo de ofensas e minha família estaria no meio foi uma preocupação maior do que deixar meu mandato de deputada ao aceitar concorrer”, diz Manuela, que acredita que teve a trajetória política marcada pelos assédios relacionados a gênero desde o início. “Fui eleita muito cedo, aos 23 anos, e era chamada de ‘musa com cérebro’ pelos jornais, o que agora seria inaceitável”, afirma. Nesse sentido, a linguagem usada pelos meios de comunicação ajuda a fomentar discursos que comprometem a atuação feminina na política. Hoje, há vigilância atenta.
“Cansamos de dizer que precisam nos esperar terminar de falar; eles alegam pouca paciência, como se não soubéssemos explicar”
Kátia Abreu, senadora
Embora o aumento de mulheres resulte na ascensão dessa discussão, não se pode dizer que elas formam um bloco monolítico. Cada uma carrega pautas próprias e não há consenso absoluto sobre como reverter a desigualdade numérica ou sobre a questão da violência. Em agosto, a deputada federal Caroline De Toni (PSL-SC), vice-líder do governo na Câmara, submeteu o Projeto de Lei nº 4.213, que retira a cota de candidaturas, argumentando que ela cria segregação entre sexos e insegurança jurídica para partidos. A deputada não deu entrevista à reportagem, pois não tinha espaço na agenda, segundo sua assessoria de imprensa, que enviou posicionamento sobre algumas questões. Ela entende que há “falta de interesse das mulheres pela política”, o que se reflete na baixa representatividade, e que “indifere se essa função vai ser desempenhada por um homem ou por uma mulher”. Também diz que “comentários ofensivos e agressões verbais acometem políticos de ambos os sexos. É inclusive inerente à sua condição de representante do povo que o político seja criticado duramente. Por que isso deveria ser diferente com uma representante mulher?”. Seu projeto de lei aguarda despacho do presidente da Câmara. Entre as políticas contrárias ao fim das cotas está a senadora Kátia Abreu: “Eu vou além. Acredito que deveria haver cota para as cadeiras. O desequilíbrio de gênero é um prejuízo não só para as pautas das mulheres, mas para toda a sociedade”.
O que falta para termos mais mulheres eleitas na política

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Tarô da Semana: Pajem de Copas traz novos começos de 14 a 20/7
Tarô da Semana: Pajem de Copas traz novos começos de 14 a 20/7 12 posições sexuais possíveis para inovar na transa
12 posições sexuais possíveis para inovar na transa Mercúrio retrógrado em Leão: o que pode desandar em cada signo de 18/7 a 11/8
Mercúrio retrógrado em Leão: o que pode desandar em cada signo de 18/7 a 11/8 6 truques para aproveitar espaços pequenos com conforto e economia
6 truques para aproveitar espaços pequenos com conforto e economia Os 7 melhores combos de perfume e creme para ficar cheirosa o dia todo
Os 7 melhores combos de perfume e creme para ficar cheirosa o dia todo