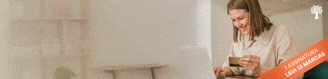Mulheres fundam os próprios blocos e fazem Carnaval ativista
Vítimas de assédio e sem vez na organização da folia, elas levam às ruas discussões de gênero e criamespaços mais seguros para se divertirem

Mulher sozinha no Carnaval de rua não pode reclamar de assédio e, se estiver por lá, certamente não é decente. A afirmação é absurda, mas, infelizmente, revela o pensamento da maioria dos 3,5 mil homens entrevistados pelo Instituto de Pesquisa Data Popular há quatro anos. As mulheres notavam as consequências desses julgamentos na pele, em episódios de assédio e violência. Começaram a se organizar em blocos próprios, uma folia só para elas. Comum a todos eles é o incômodo com a maneira como as mulheres são tratadas em uma festa que tem bebida alcoólica, paquera e beijo na boca, mas nunca permissão ou justificativa para abordagens agressivas. Levar para as ruas discussões de gênero tornou-se uma forma de protesto – que, neste Carnaval, está mais consolidada do que nunca.

Uma das principais transformações promovidas por elas é a ocupação de espaços antes reservados apenas aos homens, como na dianteira da bateria. Entoando clássicos de vozes femininas da música popular brasileira, o Bloco Pagu coloca 150 mulheres ritmistas para tocar no centro de São Paulo – o nome é uma referência à escritora feminista Patrícia Galvão. Ele foi fundado em 2016 por duas amigas, Mariana Bastos e Thereza Menezes, que perceberam o vácuo de representatividade feminina no Carnaval. Em blocos mais antigos, as mulheres ficam com os instrumentos mais leves, como o chocalho. No Pagu, há 30 delas tocando o mais pesado deles, o surdo. “A procura foi muito alta. Não tínhamos noção clara de que não ter esse espaço era um problema tão grande”, diz Thereza. O grupo rapidamente se ampliou, pois as mulheres encontraram no bloco não apenas samba mas também acolhimento – inclusive em casos de violência doméstica. “Queríamos que fosse um lugar em que elas se sentissem bem”, afirma Mariana.
A manutenção do espaço seguro para a diversão é um dos grandes poderes do Carnaval feito por mulheres. É o que motiva o também paulistano Siga Bem, Caminhoneira, que reúne sobretudo mulheres lésbicas e bissexuais, população-alvo de preconceito e boicote à livre expressão ou manifestação de afeto nas festas de rua. “É um dos poucos lugares em que podemos estar só entre nós. Por isso, gostamos de preservá-lo para as mulheres”, diz Jackie Cunha, maestrina da bateria, percursionista profissional que tinha como sonho antigo ensinar música a mulheres.
Palavras de ordem
As agressões e chacotas às mulheres impulsionaram a formação do Mulheres Rodadas, que sai no Carnaval carioca desde 2016. A primeira edição foi uma resposta a um cartaz usado como fantasia por um folião e postado nas redes sociais que dizia: “Não mereço mulher rodada”. Para a fundadora, Renata Rodrigues, foi um processo muito pessoal colocar o bloco na rua. Na infância, era proibida de pular Carnaval e, antes de iniciar a nova empreitada, havia passado por um divórcio e uma disputa judicial pela guarda dos dois filhos que se arrastou por sete anos. “Dali em diante, percebi que eu era dona da minha vida”, conta. Essa busca feminina por liberdade em relação ao próprio corpo e à sexualidade está na raiz do Mulheres Rodadas, que se autointitula o primeiro bloco feminista do Rio. “O Carnaval nada mais é do que uma expressão poderosa da cultura patriarcal no Brasil. Nele, são reproduzidas todas as formas de machismo que vemos no restante do ano”, opina Renata.
Em 5 de janeiro, data que marcou o início das comemorações na capital carioca, integrantes do bloco apresentaram a performance intitulada “Um estuprador no teu caminho”. Em gesto que deve ser repetido no desfile oficial, reproduziram, de forma carnavalesca, o protesto feito por mulheres chilenas em novembro passado contra a violência de gênero. “Fornecemos informação política para as integrantes; muitas ouviram falar de feminismo pela primeira vez no Carnaval”, afirma Renata.



As causas dos blocos extrapolaram as fronteiras do feriado, amplificando o grito das mulheres por igualdade e popularizando conceitos como o de assédio. Há alguns anos, atos hoje considerados inaceitáveis, como puxões de cabelo e beijos forçados, eram normalizados dentro e fora do Carnaval. A frase de ordem “não é não” ajudou a fixar a ideia de que a violência não é mais tolerada e que a vontade delas deve ser respeitada. Em 2017, o “não é não” ganhou as ruas em tatuagens distribuídas gratuitamente por iniciativa de um grupo de amigas cariocas, após uma delas sofrer um episódio de violência. “Agora, temos embaixadoras em todo o Brasil, formando uma rede de apoio entre mulheres”, explica a fundadora, Aisha Jacob. Com o apoio de financiamento coletivo, distribuíram 180 mil adesivos em nove estados brasileiros no ano passado. Agora querem chegar a 15 estados.
Nesse período, é significativo o aumento das denúncias de violência contra a mulher, que vão de assédio a agressões domésticas. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos estima que, conforme dados dos últimos anos, haja um aumento de cerca de 20% nas ligações referentes à violência sexual para o Disque 100 e 180 durante o Carnaval. Neste ano, não existirá campanha do ministério para coibir os casos, apenas o plantão de 24 horas. Mas, desde o início das discussões sobre assédio na folia, um avanço importante foi a aprovação da Lei 13 718, que transformou em crime a importunação sexual, isto é, manter atos libidinosos sem consentimento (entenda como agir em caso de assédio na coluna “Justiça de Saia”, na página 40). O Carnaval de 2019 foi o primeiro depois que a lei entrou em vigor e, somente em Salvador, cinco homens foram presos pelo crime.
Também incentivadas pela movimentação de mulheres, campanhas públicas engrossaram o coro. Em São Paulo, lideranças femininas de 60 blocos de rua se uniram em uma comissão para propor ações para a festa deste ano, como conscientização sobre a lei de importunação sexual e postos de Delegacia da Mulher. “Ainda não temos garantias da implementação das reivindicações pela prefeitura, mas avançamos ao sermos ouvidas sobre a questão”, afirma Juliana Matheus, integrante do grupo e fundadora do bloco Filhas da Lua. Com uma bateria formada apenas por mulheres, o cortejo será o primeiro a desfilar no Carnaval paulistano, na manhã do sábado anterior ao feriado. Para se financiarem, não cobram mensalidade das ritmistas; as contribuições são voluntárias.


Dentro das comunidades
Embora o movimento tenha ganhado novas cores com a chegada de mais blocos feministas, as mulheres ocupam a rua há muito tempo. Fundado em 2005, no tradicional bairro paulistano Bom Retiro, o bloco Ilú Obá de Min (que significa “mulheres que tocam tambor para o rei Xangô”) é um dos mais antigos com bateria feminina – são 450 mulheres, a maioria delas negra. Os seus cortejos homenageiam a cultura afro-brasileira. Contam histórias de personagens da mitologia e da história africanas, como a rainha Nzinga, nascida no século 16, que representa a resistência à ocupação europeia do continente, e também de mulheres artistas atuais, como Elza Soares e Leci Brandão. “Temos a obrigação de resgatar a nossa história, porque ela não começa quando o navio negreiro chega ao Brasil, é muito mais antiga”, diz Beth Beli, uma das fundadoras. Neste ano, o bloco irá homenagear a pernambucana Lia de Itamaracá, 76 anos, merendeira que se tornou uma aclamada cantora e compositora.
Se as mulheres já conquistaram espaço cativo no Carnaval de rua, elas começam a transformar também as baterias mais tradicionais. Na última divisão das escolas de samba do Rio de Janeiro, há uma mestre de bateria. Nascida em uma família que tem o samba como característica fundamental, Thaís Rodrigues comanda a bateria da Feitiço do Rio. “Minha mãe era passista e desfilou comigo na barriga”, conta Thaís, que também é diretora de bateria da Acadêmicos da Rocinha, no grupo de acesso carioca. Logo que assumiu, quem não a conhecia estranhava o fato de ela ser mestra de uma bateria, mas aqueles que já tinham ouvido Thaís tocar sabiam que ela merecia o posto. “Tenho muitos amigos nas escolas de samba e misturei integrantes da Rocinha e da Feitiço para montá-las. Todos me respeitam”, diz.
Não tiveram a mesma sorte outras líderes de bateria. A pernambucana Joana D’arc da Silva Cavalcante é a primeira mulher mestra de um grupo de maracatu de baque virado, o Encanto do Pina, fundado por sua avó, com sede na comunidade do Bode, em Recife. Quando foi nomeada, em 2008, a reação dos integrantes da bateria foi unânime: todos se retiraram. “Ninguém queria ser comandado por uma mulher. Eu achava que era algo pessoal, que eles não gostavam de mim. Eu não entendia que eram machistas”, conta Joana. Foi nesse contexto que surgiu o movimento Baque Mulher, para empoderar mulheres do maracatu. “Precis��vamos de um lugar para reunir meninas para tocar juntas, confraternizar e conversar”, explica. Hoje, o Encanto do Pina é composto em sua maioria de ritmistas mulheres, prova de que a energia feminina chegou ao coração carnavalesco, a bateria, e que de lá não sairá mais.
 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO