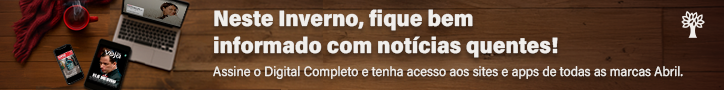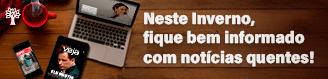O velho medo do ridículo
Para nossa editora Liliane Prata, vivemos em tempos com nudes e segredos vazados, mas um tipo específico de vergonha ainda persiste

Não faz muito tempo, um garoto de 11 anos confessou para mim sua vontade de ter um canal no Youtube. Todo falante, olhos entusiasmados, passou um bom tempo explicando como imaginava seus comentários sobre futebol e jogos de videogame, suas conversas a respeito de temas aleatórios. Perguntei o que ele estava esperando para começar a produzir os vídeos e aí seu tom de voz, seu semblante, tudo se modificou: “Ah, é só uma vontade, não vou ter um canal, não”. Quis saber o porquê e a resposta foi: “E se ninguém gostar? E se todo mundo ficar me zoando?”.
Vira e mexe, tenho a impressão de que vergonha é coisa antiga, sentimento datado neste mundo filmado e povoado por nudes, frases comprometedoras vazadas, escândalos revelados. Vergonha soa tão vintage, algo do tempo em que os segredos eram guardados a sete chaves e não printados e compartilhados. Mas que bobagem a minha, quem nunca sente vergonha bom sujeito não é. Vergonha é como o amor, como a tristeza, como qualquer turbulência interna que diferencia a gente das máquinas e que nunca será solucionada, porque nunca se tratou de solucionar, no máximo de aprender a conviver. Mesmo na cultura dos holofotes, sempre haverá frestas por onde passa a meia luz das confidências, da confiança entre velhos amigos, do cigarro a dois na cama.
A vergonha não só continua existindo como segue versátil: previsivelmente ligada aos outros, à vida em sociedade, mas sempre com uma cola diferente – o moralismo mais conservador ou a timidez mais inocente; muitas vezes a culpa estranhamente exalada por episódios insípidos. Essa é a vergonha que nunca foi interessante, nunca foi nobre, nunca salvou ninguém nem promoveu o suicídio de samurai algum: nunca fez falta. É a vergonha que nos rouba o tempo, o nosso tempo e o tempo das crianças de onze anos.
Quando o garoto me contou sobre os vídeos que não faria, me lembrei da frase de Luís Fernando Veríssimo: “Mas eu desconfio que a única pessoa livre, realmente livre, é a que não tem medo do ridículo”.
Não é qualquer vergonha que destoa dos tempos em que vivemos: é esse medo do ridículo que vai sendo soterrado pelo passar dos séculos. Ainda bem.
São os tempos dos vídeos no Youtube e também dos cabelos cor-de-rosa, das roupas que fazem sentido para seus donos, das tatuagens em qualquer idade, das famílias e amores sem rótulos. As visualizações ainda arriscam reputações, é verdade: ainda não se aceita facilmente a falha, o deslize; não são bem digeridos erros e mudanças de ideia: anos de vida são comprometidos por palavras mal pensadas. Mas isso vem mudando também.
Está acabando o tempo de sentir vergonha do que se é e também do que já se disse, do que já se pensou, do que já se fez. Antigamente, quando alguém me cobrava (!) por algo que eu disse há dez anos, por algo que escrevi há cinco anos, por algo qualquer que remetesse àquela pessoa que já fui e não sou mais, eu sentia vergonha. Não sinto mais. Esse medo do ridículo precisou ficar lá atrás, em um tempo em que as experiências eram vividas e dissolvidas no ar. Agora, em tempos compartilhados, como não aceitar, de uma vez por todas, nossas imperfeições? Como ainda ser escravo da opinião alheia, como ainda se aprisionar pelo medo do ridículo?
Nossas originalidades e também nossos erros, nossas frases bem escritas e também nossas cazas escritas assim, com z: nunca foi tão possível se bancar, nunca a vida bancou tanta liberdade.
Que aquele menino de onze anos aprenda isso enquanto está em tempo – a sorte dele é que vivemos em tempos nos quais sempre se está em tempo.
Liliane Prata é editora de CLAUDIA e escreve no site semanalmente. Para falar com ela, mande um e-mail para liliane.prata@abril.com.br

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Horóscopo da semana: previsões de 30 de junho a 07 de julho
Horóscopo da semana: previsões de 30 de junho a 07 de julho As 5 melhores escovas secadoras para ter um cabelo de salão
As 5 melhores escovas secadoras para ter um cabelo de salão Hidratação de couro: 4 passos para manter suas peças sempre impecáveis
Hidratação de couro: 4 passos para manter suas peças sempre impecáveis Trench coat cropped: 5 formas estilosas de usar a tendência do inverno 2025
Trench coat cropped: 5 formas estilosas de usar a tendência do inverno 2025 Os 7 melhores hidratantes de mão para o inverno
Os 7 melhores hidratantes de mão para o inverno