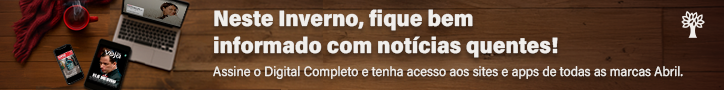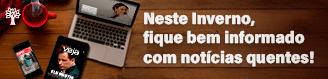Maria Rita: “Não vou deixar ninguém se meter nessa relação mãe e filha”
Maria Rita revela o encantamento de se ver na pequena Alice, da retomada da ligação com a memória da mãe e da necessidade de livrar Elis Regina da imagem de drogada. Fala, ainda, do desafio de educar um pré-adolescente e do casamento feliz

Uma mulher que se pôs em paz consigo mesma. Talvez seja esse o melhor retrato da cantora Maria Rita Camargo Mariano, 37 anos, virginiana, mãe de Antonio, 11, e Alice, 2. Ela poderia ter encruado logo depois do disco de estreia, 12 anos atrás, caso tivesse sucumbido às críticas e aos ataques que a reduziam à imitação da mãe, Elis Regina, a maior cantora do Brasil, morta em 1982, aos 36 anos (quando Maria Rita tinha apenas 4). Mas não: já soma dez discos de ouro e 11 prêmios Grammy Latino – fruto de dez CDs gravados. E a cantora não está em ótima fase somente na carreira. Por obra de uma enorme sincronicidade, como ela acredita, encontrou-se em 2011 com o guitarrista Davi Moraes, 41 anos, que ama muito. “De lá para cá, não nos desgrudamos mais”, diz. Com ele teve a caçula; é com Davi que divide as gravações, a estrada, os shows, a busca da serenidade, a vida. Mas não é uma vida plácida. A educação dos filhos “num mundo de valores enlouquecidos” a desafia. A lida com eles, no entanto, é prazerosa, porque filhos têm o poder de levar os pais a revisões. Por exemplo: tornar-se mãe de menina reconectou-a com a própria origem e a fez completar a trindade com Elis, que Maria Rita havia “tirado de casa”. Brigou muito com essa mãe, em pensamento, por acreditar que fora abandonada. Mas também se empenhou como leoa na defesa dela e ainda quer fazer mais para resguardar a imagem de sua “mainha”, como você verá na entrevista emocionada, concedida no Rio de Janeiro, onde essa paulistana mora.
Seu filho, Antonio, toca tamborim no CD Coração a Batucar, que teve uma edição especial lançada em março passado. Foi um pedido dele?
Meu filho é muito musical, tem um ouvido apurado para a idade. O estúdio para ele é um playground. Fica superfeliz entre os músicos, até dorme no sofá enquanto trabalhamos. Um dia entrei na sala técnica para conferir o que estava gravado e, quando voltei ao microfone, vi Antonio mexendo no tamborim. Um dos percursionistas disse: “Cara, você manda bem. Já pode gravar”. E ele perguntou: “Posso, mãe?” Então, na música Vai Meu Samba ele tocou. Com uma seriedade profunda. Até pagamos a ele um cachê. Esse menino é sensível, se preocupa com os outros, não gosta de ver ninguém sofrer. Pré-adolescente, ele come muito, brinca até cair, tem energia sobrando. Seus dilemas são ficar um pouco longe do pai (o cineasta Marcus Baldini), que mora em outra cidade; se vai ter um celular ou não; quanto tempo pode passar na internet. Cortei o maldito YouTube, onde uns marmanjos de 30 anos, egocentrados, se exibem jogando videogame, como um tutorial. Eles não devem ser referência para ninguém, muito menos para crianças.
O nascimento de uma menina, em geral, traz uma experiência diferente. Ela é a continuação da mãe, reforça a identidade do feminino. Você notou isso?
Senti isso, sim. E me vi nela. Alice trouxe a real noção de quão feminina eu sou. Vivo num ambiente dominado por homens, produtores, músicos. Inconscientemente, e para sobreviver, treinei a agressividade. De repente, eu passo a perceber um toquinho circulando pela casa com pulseiras, fazendo assim com a mão, andando leve, se colocando. E digo: “Olha isso. É um espelho inimigo”. Mas muito gostoso e intenso. Eu me lembrei da minha mãe falando a meu respeito, sobre a mesma experiência. Quando nasci, ela ficou boba, deixou o cabelo crescer, passou a usar renda. Eu também me aproximei de roupas com flores, do glitter que Alice gosta e de coisinhas que tinha esquecido. Noto também a responsabilidade de criar uma menina nesse mundo machista. Ela tem personalidade forte; quero que continue assim, mas que não perca a doçura.
Você cuidou dela sem a ajuda de babás. Como foi isso? A criação de Alice está sendo diferente?
No tempo do Antonio, o médico me ensinou a dar o peito a cada três horas. Com Alice, mudou tudo, a orientação era: chorou, dá o peito. E sempre que ela quiser. Passava a noite acordada. E ainda precisei ajudar meu filho porque, numa virada só, vieram uma casa nova, um marido para a mãe, uma irmã. Ele ficou um pouco enciumado. Até eu voltar a trabalhar, três meses depois, só revezava os cuidados de Alice com Davi. Ele é um homem meigo, com alma generosa, pai apaixonado, merece a filha que tem. Mas precisamos mudar algumas coisas: Alice não goza de tanta diversão, digamos assim, no quesito estrada, como Antonio. Ele nasceu com o meu primeiro disco, ia aos shows, a estúdios de foto. Eu dava banho no camarim, depois ele me via entrar no palco. Mãe jovem é super-herói. Agora mais velha, quero proteger Alice dos perigos do mundo. Menina é mais delicada. O resultado é que, em casa, quando toca um CD, minha filha fala: “Não quer a mamãe cantando”. Ela acha estranho, mas não pode ser criada numa bolha. Tem que entender a minha vida, estar perto. Davi compartilha os anseios e os receios. Um tenta ajudar o outro a buscar a serenidade.
Como foi seu encontro com Davi?
Uma obra de sincronicidade. Ele mandou me chamar para um programa que fazia no Multishow, achando que eu não toparia. Fiquei surpresa. Sempre o via com Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto, sabia da sua musicalidade e pensei: “O Davi se lembrou de mim? Me convidou? Por quê?” Passei 24 horas gravando com os músicos dele, sem os meus. Aprendi a cantar Coração a Batucar, de sua autoria. A música permaneceu na minha cabeça. Meses depois, ao planejar o CD atual, perguntei se podia gravá-la. Quando ficou pronta, fui mostrar. Saímos dali já com planos de ter casa, filho, vida em comum.
Grávida de Alice, fez Redescobrir com sucessos de sua mãe. Isso influenciou o seu jeito de cantar?
Estávamos no palco eu, minha mãe e minha filha. Parei a temporada para Alice nascer, em dezembro de 2012, e retomei em março de 2013. Na volta, tinha mudado a minha tolerância emocional. Ficava triste de deixar a Alice para viajar e precisava dar um mergulho profundo, toda noite, revendo minha mãe e ainda sentindo um público muito comovido. Não era uma cantora ali, mas a filha da Elis. Quando voltava para casa, as crianças me esperavam com todas as demandas. Eu estava exausta e disse à minha equipe, no escritório: “Não agendem mais shows de Redescobrir. Agora deu”. Em outubro, estava em outro projeto.
Você e seus irmãos, João Marcello Bôscoli e Pedro Mariano, não se opuseram a Nada Será Como Antes, biografia de Elis, de Julio Maria, lançada em março, quando ela teria completado 70 anos. Já leu o livro?
Dei uma olhada. Eu me alegro em saber que, agora, existe uma biografia correta. Julio é um jornalista de caráter, não fabrica teses. O outro livro (Furacão Elis, de Regina Echeverria) tenta provar uma teoria e manipula declarações.
Mas Julio relata episódios incômodos, como uma briga em que a cantora Maysa xinga Elis, atira nela uma garrafa de uísque e sua mãe a chama de “pinguça”.
Acho natural para a época. As mulheres tinham que ser “machudas” para se impor. Cantora era considerada puta. Era dente, olho, sangue, unha… Minha mãe se via insegura, não tinha nem 1,50 metro de altura, veio de Porto Alegre para o Rio no meio de um golpe militar. E Maysa contava com uma família poderosa. Eu entendo e me vejo nela. É que hoje a gente vive uma ditadura de marketing e de imagem: não se pode falar nada, há uma patrulha enorme.
Dizem que sou parecida com Elis Regina, que tenho seu rigor com a música, seu exagero, porém mais educada que ela. Não é isso, apenas me contenho.
Outras passagens do livro confirmam que Elis fez uso de cocaína, um tema árido para a família.
Tudo que me lembro do dia em que minha mãe morreu é dela no caixão. Não entendi que estava morta nem a razão de haver tanta gente chorando. Pensava: “Por que não deixam minha mãe dormir sossegada?” Mais tarde me explicaram que ela havia morrido de um probleminha no coração. Aos 12 anos, li escondido aquele livro que falava em overdose. Vivi uma crise, um trauma. “Minha mãe não era tão legal como eu imaginava”, acreditei. Passei a questionar a mulher incrível. Na TV, uma campanha martelava: “A droga é uma droga”. Associei logo: minha mãe era uma droga. E eu, criança deprimidinha, fiquei quieta no canto. Aos 15 anos conversava com gente que conviveu com ela e anotava tudo. Seus amigos diziam: “Nada disso, pode parar! Sua mãe amava você, jamais te abandonaria. Ela estava feliz, planejava casar e gravar outro disco. Não era uma viciada, não acredite em tudo que lê”. E, de fato, ela mantinha uma alimentação boa, gostava de dançar, brincar. Drogar-se não combinava com aquela pessoa que queria viver.
Elis era uma opositora do regime militar. A overdose foi atestada por Harry Shibata, legista usado pela ditadura para comprovar suicídios de presos políticos que, na verdade, morreram sob tortura. O que pensa sobre isso?
O namorado da minha mãe (Samuel Mac Dowell de Figueiredo) era o advogado que tentava provar que Vladimir Herzog não havia se matado, mas tinha sido torturado. O mesmo legista atesta que foi achado no organismo dela uma mistura equivalente à cocaína. Ora, então, não é cocaína, caramba. Honestamente, eu não aguento mais carregar isso sozinha. Não sei se meus irmãos topariam entrar nessa viagem, mas queria tirar tudo a limpo. Ela experimentou a droga, isso nunca negamos. Na época, era uma novidade, todos usavam no meio musical. Mas minha mãe não era uma Janis Joplin, uma irresponsável, uma louca que usou a ponto de morrer. Sua voz estava enrolada quando pediu socorro ao telefone. Pode, sim, ter sido uma mistura com álcool. Não sei. Não uso cocaína. O que sei é que, em overdose, ela não reagiria assim. O jornalista Allen Guimarães, em Viva Elis, questiona a versão do Shibata gritantemente.
Descobrir a verdade, a esta altura da vida, mudaria alguma coisa? Traria conforto?
Claro que sim! É lógico que mudaria. Calaria os puritanos escandalosos que falam mal dos outros. Minha mãe merece que sua imagem seja restaurada. É como a família do Jango (presidente João Goulart), que até hoje tenta provar que ele não morreu do coração, mas foi envenenado. A verdade precisa vir à tona. É um direito meu descobrir. E também uma obrigação: o país precisa saber das coisas, perder a mania de não enfrentar o seu passado.
Numa entrevista, você disse que trouxe sua mãe de volta para casa. Por que ela esteve fora?
Para eu poder cantar. Poder ser quem sou. Achar o meu caminho. Tirei ela de casa porque não aguentei as broncas. Diziam: “Quem Maria Rita pensa que é? Começou onde a mãe terminou”. Eu respondia:
Antes de vocês me colocarem contra a minha mãe, eu paro de cantar. Abro mão disso tudo. Não vou deixar ninguém se meter nessa relação mãe e filha. Fã nenhum, imprensa, crítico, ninguém! Mamãe não era uma santa, não havia um altar para ela na minha casa. Tenho meus conflitos de filha ainda hoje. Mas ela teve que ficar perdida num canto qualquer, bem longe. Foi necessário para eu me suportar. Não tinha nada a ver com ela. O problema era eu.
Como reabilitou a relação com ela?
Fiz dez anos de carreira em 2012, quando a morte dela completava 30. João Marcello sugeriu que eu embarcasse em Redescobrir. Eu me neguei: “Chame os amigos dela para cantar. Não vou nem a pau. Para me acusarem de oportunista?” E ele: “Está louca? Você vendeu mais de 2,5 milhões de discos, está cheia de prêmios, fez turnê pelo mundo, cantou no Japão…” Reconsiderei. Eu havia perdido o direito de ver minha mãe velhinha, levar ao médico, colocar no sol. Podia, sim, cantar para ela. João recolheu caixas e caixas de discos com as gravadoras e me mandou para escolher o repertório. Muitas músicas eu nem conhecia. Ouvi dia e noite até selecionar 63. Entraram 29 no show. A voz da minha mãe foi chegando por todos os lados. Mainha voltou a viver lá em casa. Foi ótimo. Antes, Antonio olhava para uma estrela e perguntava: “É lá que mora a vovó?” Mas, por mais que ouvisse as músicas, me sentia insegura. Estava mal, achava que não tinha competência, quis desistir. Até que vi, ali no meu pequeno estúdio, meio escondido, um livro editado pela revista Bravo!, com minha mãe de língua de fora na capa. Dei um pulo: “Isso, mamãe, mostra a língua para mim, tira um sarro. É do que preciso: ser leve como você sempre quis e trabalhar nesse projeto de forma leve também”.
Qual é o balanço da experiência de embarcar no repertório de Elis? O que mudou?
Faço terapia há anos, na linha junguiana. Às vezes vai para a sessão o meu RG; noutras, o CNPJ. A pessoa e a profissional precisam se cuidar. Além dos ganhos vocais e técnicos, o maior benefício foi ter minha mãe de volta.
Você não planeja um disco com seu pai? Nunca se valeu da experiência do pianista César Camargo Mariano?
Eu não ficaria à vontade para discordar dele; fazer do meu jeito. E ele ensinou que cada um deve ter sua turma. Quero mantê-lo como referência de pai. Sou assim, reverencio. Vi Chico Buarque na coxia e perguntei: “Como vai o senhor?” E para Baby Consuelo, pedi licença: “Posso cantar com você?”
Milton Nascimento, quando estava doente, via Elis, em sonho, como um anjo. Jair Rodrigues, dois dias antes de morrer, conversou com ela no palco. A plateia o ouviu pedir à amiga que avisasse a Deus que ele não queria morrer. Não é muito mito em torno dela?
Nada de mito. Minha mãe era espírita. Encontrei pessoas que rezavam com ela no centro pouco antes de ela morrer. Eram companheiros de oração. Tem uma carta que conta que mamãe ajudou em uma cirurgia espiritual. Sou sensitiva. Sei que não é loucura de Milton, nem foi de Jair.
Você sempre acreditou em Deus?
Eu não acreditava, não. Como ele tirava a mãe de uma menina de 4 anos? Aos 21, morando nos Estados Unidos, fui levada para o hospital, com câimbras que travavam até a respiração. Achei que morreria. O médico fez exames e receitou apenas oito horas de sono e uma semana sem ir às aulas. Stress agudo. Eu fazia dois cursos, de comunicação e de estudos latino-americanos, no meio do dilema “cantar ou não cantar”. Aí olhei para Deus.

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Horóscopo da semana: previsões de 30 de junho a 07 de julho
Horóscopo da semana: previsões de 30 de junho a 07 de julho Os 7 melhores hidratantes de mão para o inverno
Os 7 melhores hidratantes de mão para o inverno Não é só para idosos: quando começar a ir ao geriatra
Não é só para idosos: quando começar a ir ao geriatra Hidratação de couro: 4 passos para manter suas peças sempre impecáveis
Hidratação de couro: 4 passos para manter suas peças sempre impecáveis As 5 melhores escovas secadoras para ter um cabelo de salão
As 5 melhores escovas secadoras para ter um cabelo de salão