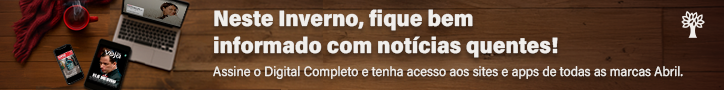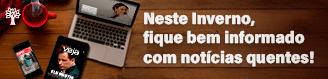A emocionante história de Maju, a bebê com epidermólise bolhosa
A mãe, Junia Cristina Fernandes, 39 anos, não descansou até conseguir um transplante de medula, tratamento experimental que diminuirá a dor da pequena

Faz quase dois anos que a minha vida se transformou em uma luta diária em busca da cura da doença da minha filha, Maria Julia Rabelo Fernandes, que tem 1 ano e 7 meses. Maju, como é carinhosamente chamada por todos, nasceu com epidermólise bolhosa distrófica recessiva – doença genética rara, hereditária, não contagiosa e sem cura, em que o organismo não produz o colágeno necessário para a elasticidade da pele.
É caracterizada por lesões e formações de bolhas que podem infeccionar e levar à morte se não forem tratadas adequadamente. Além dos cuidados permanentes com Maju, me desdobro para atender meu outro filho, Pedro, de 7 anos. Ele é autista clássico não falante e também requer cuidados especiais.
Fui casada por 12 anos; era uma união estável. Aos 31, engravidei de Pedro. O diagnóstico de autismo clássico chegou quando ele tinha 1 ano e 8 meses. Na época, me aprofundei para entender tudo sobre a condição e virei uma ativista pelos direitos dessas pessoas, espalhando informação. Pedro iniciou as terapias muito cedo e, até então, eu vivia tranquila.
Veja o que está bombando nas redes sociais
Apesar de a gravidez de Maria Julia não ter sido planejada, fiquei feliz, especialmente quando soube que seria uma menina. Afinal, sempre havia sonhado em ter um casal. Por outro lado, não queria outro filho porque já me dedicava ao extremo a Pedro. Também tive medo de Maju nascer com autismo, mas eu já sabia tanto sobre a condição que logo a preocupação passou.
Como eu era dona de loja de roupas, fiz o enxoval dos sonhos. Uma prima que mora nos Estados Unidos enviou caixas de peças maravilhosas. Mandei fazer conjuntos iguais para mim e para ela. Mal sabia eu que Maju nunca usaria nenhuma dessas roupinhas.
Meu marido saiu de casa quando completei cinco meses de gravidez. Abandonou a todos nós. Chorei muito até juntar forças para erguer a cabeça. No dia do parto, fui dirigindo até o hospital de Pirapora, no norte de Minas Gerais, acompanhada de uma sobrinha, pois na nossa cidade, Várzea da Palma, não tem maternidade.
Assim que os médicos tiraram Maria Julia da minha barriga, o semblante de preocupação da equipe indicou que havia algo errado. Ela nasceu com 80% da perna direita sem pele, em carne viva. Eu chorava sem parar. Tentaram colocá-la para mamar no peito, mas ela não conseguia porque não tinha pele mucosa na boca. Ninguém fazia a menor ideia de qual era o problema da minha filha.
A primeira suspeita que surgiu foi de aplasia cutânea, caracterizada pela ausência de uma parte da pele ao nascer. Nesse caso, com tratamento, tudo volta ao normal. Mas algo dentro de mim dizia que era mais grave. E eu tinha razão. Descartaram a aplasia e enviaram um pedaço da pele de Maju para análise na Universidade de São Paulo.
Depois de 45 dias a biópsia indicou que o diagnóstico era epidermólise bolhosa distrófica recessiva de grau 3, uma das mais severas. Maju ficou internada todo esse tempo, sob cuidado intenso por causa do risco de infecção na perna. No seu terceiro dia de vida, um pediatra da Universidade Federal de Minhas Gerais nos viu no hospital e me disse: “Se você quiser sua filha viva, corra com ela para Belo Horizonte. Aqui ela não vai sobreviver”.

Providenciamos a transferência para o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, onde ficamos internadas na área de isolamento. As bolhas começaram a aparecer. Todo cuidado era pouco. Assim como fiz com o autismo, passei a pesquisar a doença em busca do melhor para minha filha. Muito pouco se sabia sobre epidermólise bolhosa no Brasil. Havia o registro de uns 700 casos – imagino que muitos bebês morreram sem que se soubesse o que realmente tinham.
Descobri um médico italiano que havia feito o primeiro transplante de pele do mundo para tratar a epidermólise bolhosa, mas de um grau menos severo que o de Maju. Soube que ele participaria de um congresso na Itália onde falaria sobre o transplante e não pensei duas vezes. Juntei dinheiro e atravessei o oceano para falar com ele.
Ao final da palestra, quando ele saiu da sala, eu o abordei pelo braço e disse: “Sou mãe de uma bebê que tem epidermólise bolhosa. O senhor pode, por favor, me escutar?”. Duas brasileiras que moram na Itália estavam comigo para me ajudar com a tradução do idioma. Ele foi muito atencioso e explicou que no caso de Maju o transplante de pele não era indicado, pois ela tinha lesões internas também, e elas não seriam resolvidas. Não desanimei.
Voltando para o Brasil, conversei com o doutor Luís Mantovani, o primeiro médico a fazer transplante experimental de medula óssea em uma criança com epidermólise bolhosa. O procedimento havia sido em 2017 no Hospital Albert Einstein, sob a tutela do médico Nelson Hamerschlak, uma das principais autoridades na área. O transplante de medula não cura a doença, mas tem o potencial de reduzir em 80% o aparecimento de novas lesões e acelerar a cicatrização das já existentes.
Apresentei o caso de Maria Julia e começamos um acompanhamento no Itaci, hospital público infantil ligado ao Hospital das Clínicas, em São Paulo. Por ser experimental, o transplante não poderia ser feito naquele momento. Recorri mais uma vez ao doutor Nelson, dessa vez no Einstein. Após avaliar Maria Julia, ele disse que ela tinha indicação para o procedimento, mas que os protocolos de pesquisa financiados pelo SUS estavam suspensos.
Soube então que existe um grupo em Minnesota, nos Estados Unidos, que faz o transplante de medula para epidermólise há algum tempo com sucesso. Entrei em contato e pedi um orçamento. Só o transplante ficaria em torno de 4 milhões de reais, fora o tempo de internação, consultas e outros gastos. Não me abalei com o valor e lancei campanhas de arrecadação de dinheiro para ajudar a minha filha.
Conseguimos juntar mais de 150 mil reais – o suficiente para pagarmos as consultas e exames, mas o visto de Maria Julia foi negado. A cada não recebido, a cada obstáculo que aparecia, eu me desesperava, mas nunca pensei em desistir. Fui atrás de corrigir a documentação de Maju para tentar novamente o visto para os Estados Unidos. Quando finalmente veio a aprovação, recebi uma ligação do doutor Nelson dizendo que o transplante de Maju estava liberado para ser feito no Einstein. Quase não acreditei. Iríamos tratar da saúde da minha filha no Brasil, sem ter que me afastar de Pedro por muito tempo. E melhor do que isso, o hospital havia localizado um doador 100% compatível, algo bastante raro.
Demos entrada no Einstein no dia 10 de junho. Quando recebi os papéis para assinar a autorização do transplante e afirmar que eu conhecia os riscos, quase desisti. Afinal, estaria submetendo minha filha a um tratamento experimental. Pedi uns dias para pensar melhor. E se desse errado?
Como sou devota de Nossa Senhora Aparecida, rezei para que ela me iluminasse e me ajudasse. Conversei com amigos e familiares. Chorei. Decidi autorizar. Maria Julia é uma menina forte. De início, ela foi submetida à quimioterapia, que destruiu as células da medula óssea, deixando seu corpinho totalmente sem imunidade. No dia 27 de junho, foi realizado o transplante. Correu tudo perfeitamente dentro do previsto. No 15º dia após a infusão, a medula voltou a produzir células, mas não sabemos ainda se são dela própria ou do doador.

Tenho esperança. Sei que o transplante não vai curar totalmente minha filha, mas pode aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dela. Até isso acontecer, as feridas só aumentam, provocando dor e sangramento. Maju já tomou morfina de seis em seis horas e, mesmo assim, não perdeu o sorriso e o olhar encantadores. Ela nunca pôde usar as roupinhas.
Está sempre enfaixada em curativos especiais que custam até 4 mil reais a caixa. Eles precisam ser trocados a cada dois dias, em média, gerando um gasto mensal perto dos 50 mil reais. Cada troca leva de duas a cinco horas, e eu não consigo acompanhar até o fim, pois passo mal ao ver o sofrimento da minha filha. Maju não conhece o mar, nunca pisou na areia nem saiu do seu quartinho.
O calor é nosso inimigo, pois aumenta a coceira e leva a mais bolhas e feridas. O corpinho de Maju é todo sensível, já está 80% comprometido com lesões. Não posso pegá-la pelas axilas, senão rasga a pele. Também nunca pude dar um beijo nem um abraço mais forte.
As crianças com epidermólise bolhosa são chamadas de borboletas, pois são tão delicadas quanto as asas desse inseto, que se rompem facilmente. Eu realmente espero que o transplante traga melhoras à vida da minha pequena.
Enquanto isso, continuo estudando e buscando alternativas. Posso dizer que, graças à minha insistência, o Ministério da Saúde deverá lançar o primeiro protocolo de epidermólise bolhosa no Brasil. Estou trabalhando nisso, e uma consulta pública deverá sair ainda este ano.
Ainda estamos em São Paulo esperando os efeitos do tratamento, mas não vejo a hora de voltar para casa e ficar com Pedro. Ele sente muito a nossa falta. Brinco que Pedro é uma rocha por fora e frágil por dentro. Maria Julia é uma fortaleza por dentro e superfrágil por fora. Um completa o outro. Somos uma família feliz.”
*Atualização do texto: A medula pegou!
https://www.instagram.com/p/B069agDBXDN/
Leia mais: Garoto tem 526 dentes retirados da boca
+ Idosa faz 107 anos e dá dica curiosa para alcançar a longevidade


 6 inspirações para usar o Labubu nos looks do dia a dia
6 inspirações para usar o Labubu nos looks do dia a dia 5 perfumes baratinhos e semelhantes aos de marcas de luxo
5 perfumes baratinhos e semelhantes aos de marcas de luxo Não é só para idosos: quando começar a ir ao geriatra
Não é só para idosos: quando começar a ir ao geriatra 12 posições sexuais possíveis para inovar na transa
12 posições sexuais possíveis para inovar na transa Sobretudo preto e cachecol: 5 ideias para brilhar com a combinação no inverno
Sobretudo preto e cachecol: 5 ideias para brilhar com a combinação no inverno