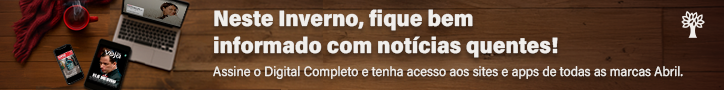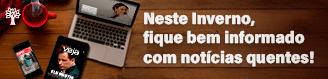“Eu senti pena pelo mundo”, diz documentarista sobre estupro coletivo na Índia
"Indian's Daughter" conta a história do estupro coletivo de uma jovem que mobilizou a Índia e chocou o mundo.

Em dezembro de 2012, o estupro coletivo de uma jovem mobilizou a Índia e chocou o mundo. A estudante de medicina Jyoti Singh, de 23 anos, voltava do cinema com um amigo por volta de 20h30 em Nova Déli, quando foi espancada, mutilada e estuprada por seis homens dentro de um ônibus. Singh morreu duas semanas depois, em um hospital de Singapura, pedindo desculpas à família por “causar transtornos”.
O crime repercutiu mundialmente e motivou uma onda de protestos que pediam a revisão das leis sobre violência sexual e clamavam pela igualdade de direitos entre homens e mulheres na Índia. Os protestos, que duraram cerca de um mês, foram a motivação para que a documentarista britânica Leslee Udwin, de 58 anos, mergulhasse na história para “amplificar as vozes” de quem clamava por mudanças.
Ela passou os últimos dois anos e meio entrevistando os envolvidos no crime — condenados, seus advogados, a família dos estupradores e familiares da vítima. Indian’s Daughter (A Filha da Índia) foi lançado em março deste ano, exibido em vários países, mas banido na Índia.

(A documentarista e ativista Leslee Udwin, de 58 anos, mergulhou na cultura indiana para entender o comportamento que oprime e violenta mulheres)
Leslee afirma que a única forma de acabar com tragédias como a que vitimou Jyoti é investir em uma educação humanitária, não silenciar as vítimas e, principalmente mudar a mentalidade. Em uma das cenas do filme, um dos defensores dos criminosos afirma que a Índia “tem a melhor cultura. Na nossa cultura, não há lugar para as mulheres”.
“A cultura permite que as mulheres sejam vistas como pessoas de ‘baixo valor’ pelos homens, e enquanto você tiver esse tipo de pensamento, as mulheres serão estupradas, traficadas, e vítimas de violência doméstica”, disse Leslee em entrevista ao Brasil Post.
Cerca de 50 mil casos de estupro são denunciados todos os anos no Brasil, mas estima-se que isso represente menos de 10% do total, de acordo com dados da ONG Plan Internacional, que atua há 18 anos no Brasil e está promovendo a campanha “Quanto custa?”, sobre violência sexual contra meninas. A ONG também trouxe o documentário de Leslee para ser exibido em várias cidades no Brasil (veja a programação aqui).
“Deveria ser compulsório que as crianças aprendessem o respeitar o outro desde o primeiro dia na escola e em casa. Porque dessa forma nós podemos fazer a diferença, e criar cidadãos globais e respeitosos“, completou.
Desde que seu filme foi lançado, a diretora se tornou consultora da Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) para um projeto global de educação que promova a igualdade de gêneros e direitos femininos (Equality Studies Global Initiative, em inglês).
Leia a entrevista completa:
Brasil Post: Leslee, o que mais te motivou a fazer o documentário e contar a história trágica de Jyoti Singh Pandey para o mundo?
Leslee Udwin: O que mais me motivou foi a resposta do povo indiano a esse absurdo. Até onde eu me lembro, essa foi a primeira vez em que um número tão grande de mulheres e homens foram às ruas para lutar pelos direitos das mulheres. A Índia serviu de exemplo para o mundo. Nenhum outro país foi às ruas protestar ‘civilmente’ pelas mulheres durante tanto tempo.
Eles não estavam lutando apenas por justiça para essa menina, mas também estavam lutando contra a cultura do estupro, por independência, segurança e respeito para todas. Me senti pessoalmente movida por esse sentimento. Quando eu vi isso, eu canalizei a minha energia e o meu talento para ampliar suas vozes.
A Filha da Índia é um nome muito forte e significativo. Por que esta escolha?
Na Índia, por lei, você não pode revelar o nome de uma vítima de estupro, seja uma sobrevivente, ou alguém que foi morta após o ato. A mídia, quando noticiou o caso, usou vários nomes para identificar essa jovem e, entre eles, “Filha da Índia”. Naquele momento, ela tinha em si todas as mulheres e crianças da Índia que passam pela mesma situação de sair de noite e correr o perigo de ser estuprada.
As feministas indianas foram muito agressivas por causa do título. Elas dizem que “filha” é uma palavra patriarcal. E que na Índia se espera que as meninas sejam filhas, mães e esposas e que esta é uma visão masculinizada delas – ela afirmam que ela não é só uma “filha”, que ela tem um nome.
A palavra filha não foi usada neste sentido: eu tenho uma filha, eu sou uma filha. Fiquei chocada que as feministas foram contra um filme que trabalha com os mesmos ideais delas. Estou 100% convencida desse título.

Este é um filme muito, muito intenso — e que traz para a discussão a cultura do estupro, muitas vezes silenciada, e que mulheres sofrem no mundo todo. Como mulher e documentarista, qual foi seu maior desafio ao fazer o filme?
O que mais me desafiou foi lidar com o trauma psicológico e emocional de entrevistar sete estupradores por 31 horas. E, especialmente, entrar em contato com os advogados deles. Aos 18 anos eu também fui estuprada. E eu tive toda a certeza de que este trauma em mim, suprimido por muitos anos, viria à tona e que eu teria problemas. Tenho muita repulsa por homens que fazem o que eles fizeram, não apenas no plano pessoal, mas também em termos políticos e sociais.
O que eu senti ao invés de raiva foi uma pena profunda, e isso me chocou. Ficou muito óbvio que eles foram programados pela sociedade e são um resultado dela. Eu senti pena pelo mundo, que encoraja homens a pensar como eles pensam. E o mundo inteiro é assim. Não é só a Índia. O Reino Unido, os Estados Unidos e todos países no mundo reforçam este tipo de pensamento.
E o lado emocional? Você pensou em desistir em algum momento?
Eu me dei conta de que estava entrando profundamente no lugar mais escuro do coração humano. Então não tinha como sair bem disso. E quando você faz isso, você fica tão desapontada com a humanidade que reage de uma forma negativa. Este foi o meu maior desafio. Superar que a minha alma tinha sido tomada pela escuridão.
Em um dos dias [de produção do documentário], eu acordei no meio da noite e percebi que estava no meio de um ataque de pânico –- eu estava molhada dos pés a cabeça, tremendo, com o coração batendo muito rápido. Isso aconteceu depois que eu entrevistei um homem que estuprou uma menina de 5 anos. O depoimento dele mexeu comigo de uma maneira tão profunda que eu pensei que eu pensei que não conseguiria. Então liguei para casa [no Reino Unido]. E quem atendeu foi a minha filha de 13 anos, que imediatamente percebeu que eu estava com problemas e perguntou ‘o que aconteceu, mãe?’.
E o que você respondeu a ela?
Tentei esconder o que estava acontecendo, mas ela insistiu. Eu então comecei a chorar que nem um bebê e disse “filha, eu estou com problemas, preciso que seu pai agende um voo para mim agora”. E essa menina de 13 anos, essa cidadã do mundo, me disse “respire profundamente”. E então pediu que eu escrevesse todos os meus problemas em uma lista e falou, antes que eu voltasse a dormir: “Mãe, você não vai voltar para casa. Eu e a minha geração de garotas estamos confiando e contando com você”.
E eu fiquei. Mas esse foi o ponto em que as coisas chegaram, eu entrei em colapso. Eu cheguei ao ponto de não querer mais fazer aquilo, querer ir embora, mas eu agradeço por ela ter atendido ao meu telefonema. Eu teria voltado para casa e não teria feito o filme. Tenho certeza disso.

Você acredita que o documentário possa ser o “gatilho” para promover mudanças?
O filme é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta poderosa para mudanças. O problema é que ele não atinge todo mundo. Há homens que me mandam e-mails dizendo “eu juro que respeito mulheres, mas reconheço meus pensamentos na fala do estuprador e de seus advogados”. Essas são pessoas que foram tocadas pelo filme, e isso é maravilhoso, mas é como esvaziar o oceano com uma colher de chá.
Sem iniciativas e campanhas educativas, o mundo não vai mudar. E por mais que eu acredite no meu filme, eu preciso ser dura quanto a isso. E é por isso que eu interrompi minha carreira de documentarista e me tornei uma ativista. Eu não vou fazer outro filme, porque o que estou fazendo nessa jornada é muito mais importante e vai ser muito mais efetivo.
Existe algo que podemos fazer para que esse tipo de comportamento não seja aceito como “normal”? Se sim, como?
O que mais me vem à mente para responder sua pergunta é que eles [os estupradores] não são monstros. Eles não acreditavam que estavam fazendo nada errado. Para eles estuprar foi algo ‘normal’, aceitável, porque, para eles, “todos estavam fazendo aquilo”.
Em determinado ponto eu comecei a acreditar que o problema desses homens era a falta de estudos. Entre os sete estupradores, apenas um tinha completado o ensino médio. Então eu pensei: “ah esse é um grande problema, eles têm pouca educação”. Mas aí conheci seus advogados e vi que seus depoimentos eram muito mais chocantes. Eles tinham um ódio em relação às mulheres muito mais enraizado e profundo.
Como diz Aristóteles, “educar a mente sem educar o coração não é educação”. Nós não estamos ensinando aos nossos filhos a interagir de forma respeitosa com o outro — com outros seres humanos, isso não está na nossa agenda. Não estamos ensinando respeito, não estamos ensinando a quebrar estereótipos de gênero; não estamos ensinando a quebrar este ciclo, mas sim, a reforçá-lo.

A cultura do estupro e de violação dos direitos das mulheres, como você mesma disse anteriormente, é algo global. Mas podemos dizer que este cenário é ainda pior na Índia?
Não é pior na Índia. Mas é diferente e tão ruim quanto em qualquer outro país do mundo. Lá a cultura é diferente, os detalhes são outros. Os níveis são diferentes. Se você é uma garota/mulher na Arábia Saudita e você dirige um carro, você pode ser presa – porque lá uma mulher não pode dirigir um carro. Se você vive na Nigéria, você não pode ter uma conta bancária em seu nome. No Reino Unido, há uma alta incidência de casos de estupro e violência doméstica. Além disso, as mulheres estão sub-representadas no parlamento.
Isso é nojento. Não podemos tratar as mulheres assim. O problema não é o sintoma, é a doença. O acesso à educação, disparidade salarial, diferenças no mercado de trabalho, estupro, mutilação genital, o direito ao voto, todos esses são simples sintomas da doença. Mas a doença é exatamente a mesma, e é um monstro. É a desigualdade entre os gêneros. Simples assim. De fato, se você olhar nas estatísticas, na Índia, segundo uma média nacional um estupro acontece a cada vinte minutos. No Brasil, é um a cada quatro minutos.
Há pessoas esclarecidas e maravilhosas na Índia, e muitas delas estão no filme. Mas a cultura permite que as mulheres sejam vistas como pessoas de “baixo valor” pelos homens, e enquanto você cultivar esse tipo de pensamento, as mulheres sempre serão estupradas, traficadas, e vítimas de violência doméstica.

Você considera o caso da “Filha da Índia” como um ponto de virada para criar um movimento mundial para promover um movimento de visibilidade para os direitos das mulheres? Há esperança?
Eu sinto muito em dizer, mas não. Mesmo com muitas pessoas realmente engajadas nas ruas, não houve uma continuação disso. As pessoas voltaram para a vida, e para a apatia de aceitar as coisas como são. Poderia ter sido, deveria ter sido, e certamente acendeu a esperança de mudança. Mas isso não é suficiente. Se nós não educarmos nossas crianças da forma que eu acredito que elas devam ser educadas, eu não acho que nada vai realmente mudar.
Assista ao trailer do documentário aqui:
Essa matéria foi escrita por Andréa Martinelli e Gabriela Bazzo e foi originalmente publicada em Brasil Post.


 Horóscopo da semana: previsões de 30 de junho a 07 de julho
Horóscopo da semana: previsões de 30 de junho a 07 de julho As 5 melhores escovas secadoras para ter um cabelo de salão
As 5 melhores escovas secadoras para ter um cabelo de salão Hidratação de couro: 4 passos para manter suas peças sempre impecáveis
Hidratação de couro: 4 passos para manter suas peças sempre impecáveis Trench coat cropped: 5 formas estilosas de usar a tendência do inverno 2025
Trench coat cropped: 5 formas estilosas de usar a tendência do inverno 2025 Os 7 melhores hidratantes de mão para o inverno
Os 7 melhores hidratantes de mão para o inverno