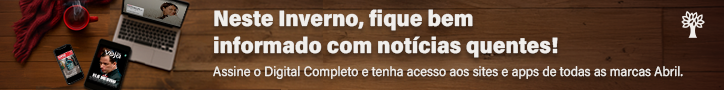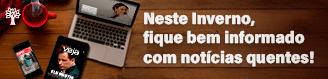As coreografias do impossível na 35ª Bienal de Arte de São Paulo
Uma conversa com Grada Kilomba, Diane Lima e Manuel Borja-Villel sobre as propostas curatoriais e as (im)possibilidades do corpo-quilombo-ancestral

A sempre aguardada Bienal de Arte de São Paulo está entre nós. Celebrando a 35ª edição, coreografias do impossível reúne 121 artistas de diversas origens e contextos, sob a curadoria atenta do coletivo formado por Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel. “Eu venho de Angola e ‘quilombo’ – que também tem a ver com meu nome – quer dizer exatamente ‘criar uma aldeia, criar um coletivo’. São vários níveis em todas as estruturas, como uma pequena aldeia, independente. Essa palavra vem da língua kimbundu. Eu acho que é bom fazer essa transferência de um continente para o outro. Talvez isso possa desenhar um pouco como nós nos formamos e formamos essa curadoria coletiva”, comenta Grada Kilomba em entrevista à CLAUDIA.
O traçar dessa narrativa visual parte da provocação de como os corpos ocupam espaços e transformam as realidades, mesmo com tantas adversidades políticas, sociais e culturais, em arte (independentemente do suporte para tal). “Queremos pensar nossas próprias pesquisas artísticas e curatoriais; há uma urgência de repensar ou de questionar todo o vocabulário, toda a terminologia, todas as estruturas que nos têm sido dadas que, de fato, já não conseguem dar resposta às questões do hoje. Melhor dizendo, as histórias e as narrativas que são tão urgentes de se contar hoje não podem ser contadas com o vocabulário, com a linguagem e dentro das estruturas as quais nos foram dadas anteriormente”, explica Grada, artista interdisciplinar, teórica e autora do livro Memórias de Plantação (R$ 68, Cobogó).
Para ela, é futurístico pensar como se atravessa essas questões e se forma um coletivo não homogêneo, disposto a se desafiar constantemente a pensar e questionar os saberes. “Acima de tudo, o que nós não sabemos e por que o ‘não saber’ está intimamente ligado a questões de violência, de poder, de apagamento e de impossibilidades. Como nós coreografamos o possível dentro dessa impossibilidade? Nós, com backgrounds tão diferentes e com geopolíticas tão diferentes também. Como isso nos ensina a olhar para as coisas de uma outra forma?”

O tema desta edição da Bienal se inspira no texto Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo-tela, de Leda Maria Martins. Apresenta, assim, as discussões acerca das possibilidades de interpretação de mundo e atribuição de sentido à vida a partir de um ponto de vista ancestral, afro-diaspórico, pautado, também, no legado e nas narrativas dos povos originários – sem definições feitas pela branquitude ou termos usados pelo colonizador.
O que a professora Leda propõe é uma exploração das “inter-relações entre corpo, tempo, performance, memória e produção de saberes, principalmente os que se instituem por vias das corporeidades”. Em suma, a ideia é que “a experiência e a compreensão filosófica do tempo também podem ser expressas por uma inscrição não necessariamente discursiva e mesmo não narrativa, mas não por isso menos significativa e eficaz: a linguagem constituída pelo corpo em performance, pelo corpo vivo que, em si mesmo, estabelece e apresenta uma noção cósmica, ontológica, teórica e também rotineira da apreensão e da compreensão temporais”.
A seguir, o bate-papo com Diane, Grada e Manolo (Hélio estava recebendo obras e artistas no momento desta entrevista) versou sobre espirais do tempo, coreografias impossíveis, corpos que se constituem também na dança que os “inscrevem no tempo”:
Se nós pensarmos no conceito que inspira a Bienal, parece-me que vocês estão num processo de aquilombamento, principalmente sob a noção de quilombo defendida por Beatriz Nascimento…
Manolo Borja: Mira, basicamente há dois termos que parecem contraditórios: impossível e coreografia; impossível é determinar um limite, o impossível. Ele também implica que alguém decide o que é possível e que é impossível. Implica uma hierarquia de poder que se dá por muitos modos incluindo por nascimento, por suposição… e coreografia é o oposto, de certo modo coreografia implica em criar espaços, criar tempos nos quais as regras, as possibilidades se vão conformando, se vão é descobrindo.
Esta Bienal segue questionando toda uma série de princípios, segue questionando toda uma estrutura de tempo e de espaço tradicional. O tempo não é vivido como um elemento linear, progressivo do qual o futuro se abre a partir de uma evolução do presente ou do passado. O futuro é formado por interrupções, silêncios, coisas desconhecidas, saltos.
Muitos dos artistas que estão na Bienal, em suas línguas originárias, muitos desses povos autóctones, não têm a palavra arte, mas isso não quer dizer que não a pratiquem, que não tenham experiência artística, que não tenham objetos; esses objetos são extra disciplinares, vão para além das disciplinas ocidentais. Um objeto, uma prática artística pode ter a ver com ecologia, com a cura, o extra-texto. E essa multitude de ideais implica, replica, de algum modo, o trabalho que realizamos como equipe curatorial heterogênea, na qual se aprende com os demais não só confirmando o que sabemos, não complementando o que sabemos, e sim questionando , desaprendendo o que acreditávamos, o que sabíamos e sobretudo tratando de buscar é aquilo que nem sequer sabíamos que desconhecíamos.

Diane Lima: E aí eu acho que tenho um exemplo muito bom que também se conecta com a relação do quilombo com a palavra e o corpo. A gente tem pensado que muitos dos conhecimentos, aqui reunidos, são orais. São conhecimentos que são passados de geração em geração através dessa memória do corpo, dessa ancestralidade. E quando a gente pensa também na relação e no modo como as estratégias de sobrevivência e de resistência das comunidades quilombolas se organizam, a gente vê que existe um impacto fatal sobre o modo como essas comunidades se organizam em termos de linguagem. Ou seja, como esses contextos impossíveis impactam na linguagem.
Algumas participantes da nossa lista estão para além da concepção moderna e ocidental sobre o ser artista e, um deles, é o quilombo Cafundó (foto acima). O que nos conecta com o Cafundó, além de pensar uma prática comunitária e coletiva, é também o modo como ele se organizou. Ao longo de décadas, através do recurso da língua. Por volta dos anos 1970, uma série de pesquisadores, sobretudo da Unicamp, passa a reconhecer que naquela comunidade havia uma outra língua, e essa língua que foi chamada de uma língua estranha, se tornou visível por uma estratégia de um líder comunitário.
Ao perceber e ao tentar encontrar estratégias de sobrevivência frente à disputa de terra que acontecia naquele momento (inclusive, houve uma disputa de terra violenta, com homicídios e uma série de problemas para além de uma questão discursiva), ele foi para Sorocaba e começou a falar em Cupópia como uma forma de pensar, de conseguir visibilidade para que a sociedade os ajudasse a atravessar essa situação. Então veja, foi um através de um recurso de linguagem que um contexto impossível foi superado, a própria remanescência dessa língua no Quilombo também mostra uma longa trajetória de resistência das comunidades afro-brasileiras no Brasil. Então, acho que esse é um bom exemplo que une o corpo, a memória, a oralidade. Os modos como a gente pensa, essas relações de práticas coletivas e também como que esse tempo espirala.
Considerando o que Grada e Manolo falaram e, também, no texto da professora Leda Maria Martins, que traz toda essa ideia de viver a partir de um tempo espiralar e como essas espirais também nos fazem significar nossas existências, a minha pergunta vai justamente ao encontro dessa coreografia do impossível, que só pode acontecer numa espiral diferente do tempo, não? Isto é, não tem como acontecer a partir do linear?
Diane Lima: Eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque ela nos ajuda a refletir sobre as práticas artísticas e as práticas curatoriais. E quando a gente fala que a gente tem tentado desafiar algumas noções de tempo linear; quando a gente pensa dentro de um espectro de trabalho como que a gente está fazendo – uma grande exposição –, a gente encontra alguns desafios metodológicos sobre os modos como se normatizou uma prática curatorial e um modo de exibição.
Então, o que temos pensado é como esses modos de exibição podem romper algumas categorias que a própria linearidade do tempo conforma no espaço. Isso quer dizer que o modo como o conhecimento ocidental se organiza é, de fato, através de uma criação de um cânone enciclopédico. E essa enciclopédia é criada para justamente categorizar e determinar todos os conhecimentos do mundo, todos os conhecimentos que são do outro sobre o mundo.

É essa relação de violência que está posta nessa categorização que a gente tenta evitar quando pensa quais seriam os outros modos ou quais seriam os nossos modos de expor. Onde estão as políticas de exibição do nós para além de uma política de exibição do outro, que, ao longo de séculos, marginalizou, invisibilizou subalternizou, criou, como a Grada falou, diversos procedimentos de epistemicídio.
Para a gente seria impossível conceder uma exposição sem a ajuda de uma ferramenta estratégica e metodológica, a qual se tornou, o tempo espiralar, porque ela que nos ajuda justamente a quebrar com todo esse processo violento que se dá no espaço expositivo e nos modos pelos quais se a gente apresenta, como a gente expõe; sobretudo porque quando a gente pensa numa exposição, é implícito ao modo de expor uma categoria de visibilidade, já é imanente do processo de expor as relações de visibilidade.
Então, obviamente para nós, a performance do tempo espiralar, da professora Leda Maria Martins, as poéticas do corpo-tela não são temas, são de fato, ferramentas que nos ajudam filosoficamente a pensar sobre esse conjunto e a partir desse conjunto de trabalhos, mas também que nos ajudam a criar um espaço possível para esses projetos e essas obras que vêm de contextos impossíveis.
Essa minha pergunta vem justamente no sentido de pensar a língua e de pensar como que é possível não só produzir conhecimento, mas materializar e construir coisas através da língua. O exemplo que você trouxe do Quilombo Cafundó é sobre essa disputa mesmo de poder, não é? Esses discursos todos entram em disputa e essas hierarquias vão se construindo. Uma vez que os discursos que são construídos mais visivelmente no corpo são subalternizados, inviabilizados, como se o discurso escrito também não fosse produzido no corpo, como se eu também não precisasse do corpo para produzi-lo. A minha pergunta era, na verdade, comentário. A gente estava falando aqui sobre essas disputas. Você falou sobre homicídio. A gente está vivendo não só no Brasil, mas em tantos lugares, a necropolítica, cada vez mais a gente está observando, infelizmente, exemplos de quem é que pode viver e quem é que deve morrer. Algumas autoras que também são citadas e pela Leda Maria Martins vão falar pra gente dessa ideia de escrevivência. Estou pensando na dona Conceição Evaristo e, também, na Saidiya Hartman com a ideia de fabulação crítica. Estou pensando também na Grada; talvez enxergar esses conceitos que me parecem que se assemelham demais a essa possibilidade de construir essas coreografias pelo corpo. Então, quer dizer, se a gente está falando de tempo espiralar, como é que a gente também não está falando de escrevivência e fabulação crítica, como é que a gente não possibilita que essas vidas sejam honradas a partir de uma produção narrativa?
Manolo Borja: As formas de relatar seguem totalmente baseadas em conceitos ocidentais; a disputa entre se a arte tem que ser útil ou tem que ser autônoma, o binarismo existe, é só ver qualquer revista acadêmica progressista, não nem sequer digo, obviamente,de uma reacionária. Seguimos com parâmetros baseados em tempo e espaço totalmente dominados por um logos, por um tipo de discurso quando há outras formas de conhecimento ou de transformar conhecimento nas quais não há uma ruptura entre afeto, corpo, fala e pensamento. Esta separação ocidental na qual parece que o pensamento é originário e a fala o explica exatamente…
Há uma crítica institucional acerca de ritmos, ações que têm a ver com os demais, com os afetos que, infelizmente, num sistema de arte que parece absorver tudo e, ao fazê-lo, banaliza os afetos que se transformam em algo naïve, quando os afetos justamente têm a ver com a impossibilidade de definir é as emoções. Este afeto, que se sabe que se move, que se sabe que é espiral, é algo que tem a ver com retorno, com o corpo, com dança, com o performativo, passa ao largo do discurso, é algo que precede e que vai além do discurso. Tudo isso não está presente em muitas dessas discussões artísticas e acadêmicas.

Eu creio que seja uma parte de uma colonialidade do poder na qual se pode admitir, sobretudo nos anos 1970, uma crítica institucional, porém, sempre permanecendo acadêmica, dentro de um logos. Citando Saidiya Hartaman falando sobre fabulação crítica, os ”perdedores” não estão condenados eternamente a serem sempre vítimas. Essa é a grande revolução e o grande desafio em uma época na qual praticamente em todo o mundo a ultradireita está cada vez mais potente; a ultradireita é perfeita, digamos, em fazer com que todo mundo seja basicamente um vencido, um derrotado.
Então, vejo que há um elemento e otimismo não naïve, mas de possibilidade de abertura em um projeto que nós estamos preparando na 35ª edição da Bienal de São Paulo, um projeto que tem a ver justamente com isso que você falava, que vai muito mais além do domínio do texto, do livro. Isso, porém, não significa que não se escreva, me refiro à ideia de livro como central.
Acho que falar dessas coisas não prescinde da escrita. Você poder ter outras possibilidades de produzir textos não significa que eu tenho só escrita. Essa é a diferença em se pensar em espiralar e em quilombo, mas também se pensar em escrevivência, em fabulação. É dizer que dá para se inscrever no corpo como diz a Leda Martins, e depois, é possível reescrever em outros suportes. Pensar essas tecnologias orais, corporais, essas tecnologias de afetos não é pensar encruzilhada? Assim, é essa possibilidade que a gente tem para construir para além de uma ideia de impossível? É essa possibilidade que a gente tem; nós, nossos corpos são muito parecidos, é essa a nossa forma de existir e de legitimar a nossa existência: por meio da palavra, mas não só. É por meio da arte, por meio de uma impossibilidade que o mundo dá.
Diane Lima: Eu acho, Carol, que você conseguiu reunir na sua pergunta uma série de conceitos, pensamentos e perspectivas que são super importantes para o projeto e algumas delas a gente é já passeou por aqui, mas eu acho que, quando eu te ouço, eu o que também se conecta com o que a gente está pensando sobre a geração de conhecimento, sobre como esse conhecimento é gerado.
Quais são as relações de poder que estão é imbricadas nesse conhecimento que a gente tem pensado com as coreografias do impossível é justamente entender como que esses corpos, como que essas políticas do movimento se relacionam com esses contextos impossíveis e como esses contextos impossíveis impactam em termos de expressão, de composição, em termos de materialidade, de ritmo, que é algo super importante, presente na exposição.

Então, como a gente está falando de práticas artísticas, é sempre importante entender como essa disposição ética impacta também os procedimentos estéticos. Para nós, duas coisas também são importantes, não é o nosso desejo reencenar uma perspectiva romântica e fantasiosa sobre o como a arte ou como essas obras praticam e falam sobre seus contextos impossíveis, para a gente é importante manter a integridade, como diz a Saidiya Hartman, ela fala sobre a beleza terrível. Então como que esses contextos, esses contextos impossíveis, matizam essas práticas?
Mas, para a gente também é importante não transformá-las em um gesto heróico. Eu acho que essa é uma coisa importante do ponto de vista dessa produção de conhecimento e do modo como essa coreografia se relaciona com as práticas cotidianas, o modo como esse corpo se inscreve no cotidiano. Para a gente também é super importante. Nesse sentido, tem um pensamento do Davi Kopenawa, que é um pajé, enfim, um líder yanomami, que vai dizer que a vida é artista. Acho que essa concepção do Davi kopenawa tem muito a ver com o que a gente fala sobre as coreografias do impossível, quando a gente pensa que há essas práticas que foram invisibilizadas no cotidiano, todo um conjunto de saberes que aqui estão sendo reunidos, mobilizados e apresentados.
Manolo Borja: O visitante, o público também irá perceber que não há temas errados, isso não quer dizer que não há preocupações, não há interesses. Normalmente o público, entra no primeiro andar, vai ao segundo, vai ao terceiro. E ali está o final da parte museográfica, a parte, digamos, dos museus. Neste caso, o percurso se dá pela planta primeira, pela terceira que não é a última e vai gerando diversas coreografias nas quais o visitante, o público pode criar suas recorrências, pode gerar multiplicidade de trânsitos.
Diane Lima: Eu acho que, para nós, essa perspectiva é importante: que o público venha, que o público conheça. Afinal de contas, o que estamos falando? A produção da diferença não precisa ser mediada por uma relação de violência, aqui estão reunidas práticas de solidariedade, tecnologias ancestrais como você também colocou, que são também importantes, como a Grada disse, para desafiar o nosso tempo. Ela falou uma coisa sobre super bonita, sobre ser infinito, tornar-se infinito.
Eu acho que também é algo super bonito nesse sentido de pensar como essas práticas rompem com categorias, como elas desafiam essa noção de que há arte naïve, há uma arte popular, há uma arte acadêmica. Acho que todo mundo aqui hoje está começando esse processo de povoamento desse pavilhão está fazendo algo em direção ao infinito.
Bienal de Arte de São Paulo – coreografias do impossível
Datas: De 6 de setembro a 10 de dezembro de 2023
Horários: terças, quartas, sextas e domingos, das 10h às 19h; quintas e sábados, das 10h às 21h
Local: Parque Ibirapuera, Portão 3
Entrada gratuita
35.bienal.org.br
* Maria Carolina Casati é uma das vozes escolhidas por esta edição da Bienal para divulgar o evento. À convite da CLAUDIA, entrevistou o coletivo sobre as propostas narrativas da curadoria. Ela é mulher negra, professora, escritora. Atualmente cursa o doutorado na EACH-USP, no Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política. Apaixonada pela palavra, é idealizadora do @encruzilinhas, um projeto de leitura e debate de textos sobre negritude, gênero, feminismos e militância. É mãe do TumTum, filha de Figênia e Brogio, neta de Zelia e amiga de muitas, mas, primeiramente, do G7.


 Horóscopo mensal: julho traz reviravoltas, tensão e recomeços
Horóscopo mensal: julho traz reviravoltas, tensão e recomeços Não é só para idosos: quando começar a ir ao geriatra
Não é só para idosos: quando começar a ir ao geriatra 6 inspirações para usar o Labubu nos looks do dia a dia
6 inspirações para usar o Labubu nos looks do dia a dia Hidratação de couro: 4 passos para manter suas peças sempre impecáveis
Hidratação de couro: 4 passos para manter suas peças sempre impecáveis 7 itens baratinhos para decorar a casa gastando pouco
7 itens baratinhos para decorar a casa gastando pouco